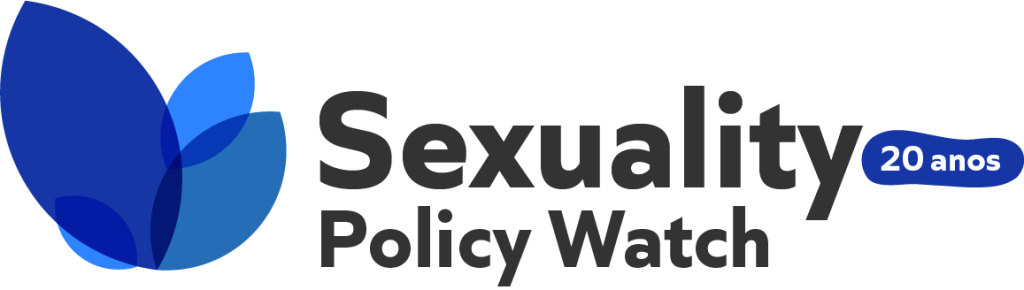Em junho de 2019, publicamos um número especial sobre os primeiros 180 dias do governo Bolsonaro. Passados seis anos, tomamos em mãos o desafio de fazer um balanço equivalente dos primeiros seis meses do governo Trump II, cuja escala e significados políticos são de outra ordem. No dia 9 de julho, Trump anunciou que as tarifas a serem aplicadas ao Brasil seriam as mais altas do mundo, recorrendo ao “processo judicial injusto” contra Bolsonaro como justificativa. A medida foi confirmada ao final de julho quando, com base na chamada Lei Magnitsky, sanções extremas, injustificáveis e de teor imperial, foram impostas ao Juiz Alexandre de Moraes.
Em que pesem as diferenças de escala e brutalismo, um traço comum robusto conecta o Brasil de 2019 e os EUA de 2025: o caos como método de governar – caos que, no caso de Trump, tem sido retratado como estratégia de “choque e horror” ou “inundação da zona” (flood the zone). Ou seja, um estado de excitação política permanente provocada por decretos presidenciais consecutivos (a maioria inconstitucionais), medidas obscenas de destruição institucional, ameaças de invasão de territórios estrangeiros, performances corporais neonazistas, cenas políticas que podem se qualificar como pornográficas.
Por essa razão, um dos artigos publicados no especial sobre 180 dias de Bolsonaro faz uma analogia entre a ofuscação provocada por essa profusão e as cenas de perversão fascista projetadas no filme 120 dias de Sodoma, de Pier Paolo Pasolini. Imagens brutais que provocam repulsa, mas das quais não conseguimos tirar os olhos. Nessa mesma sintonia, Judith Butler descreveu os primeiros atos do governo Trump II como sadismo desatado. O caldo político e imagético, caótico e cruel que extravasa desse cenário tanto alimenta a agitação da base trumpista MAGA e da ultradireita transnacional quanto espalha confusão, dispersão e paralisia. Para resistir aos impactos dessa enxurrada, é fundamental decifrá-la – tarefa árdua em razão da sua escala e vertiginosidade.
Entre janeiro e junho, a brutal política migratória deflagrada por Trump, implementada com base na caça a migrantes e deportações massivas, se metamorfoseou em militarização aberta da repressão política, como se assistiu em Los Angeles há poucas semanas. Antes disso, multiplicaram-se situações de arbítrio e coerção política contra vozes críticas do genocídio em Gaza, pesquisadores, acadêmicos e universidades. Como vaticinou um senador conservador francês, no início de março, a política externa de Trump ao estilo “bato antes para negociar depois” desaguou na hegemonia militar escancarada no bombardeio das instalações nucleares do Irã, no dia 21 de junho. Alguns dias antes, em Minnesota, a senadora democrata Melissa Hortman e seu marido foram vítimas do primeiro assassinato político da era Trump II.
Para analisar essa cena vertiginosa e complexa, é preciso ter como pano de fundo aspectos de economia política que serão examinados, em detalhe, nas páginas que se seguem. Por exemplo, a colusão entre o Silicon Valley e o governo que se mescla com tensões geopolíticas da multipolaridade. Nesse mesmo registro, o expansionismo bélico de Israel e o imparável genocídio de Gaza galvanizados pela afinidade entre Trump e Netanyahu. Por fim, o capítulo mais recente da duríssima queda de braço das tarifas foi a aplicação de uma taxa de 50% ao Brasil, cujas motivações políticas e geopolíticas são mais que flagrantes.
No plano interno, o novo orçamento que acaba de ser aprovado pelo Congresso arrasou o financiamento para saúde e proteção social, ampliando investimentos no complexo industrial de armamentos. Não menos importante, começam a eclodir tensões internas à ultradireita: o anúncio feito por Elon Musk de criação de um partido para disputar o projeto político de Trump e as críticas crescentes de parte da base MAGA ao bombardeio das bases nucleares no Irã.
Esse boletim é uma contribuição modesta para o esforço de decodificação dessa paisagem complexa, fugaz e sombria. Num primeiro bloco, oferecemos chaves interpretativas gerais que captam significados e antecedentes dos cenários internos e externos que vêm sendo redesenhados, a ferro e fogo, pelo regime que toma corpo nos EUA. Em seguida, examinamos ofensivas e “zonas inundadas”, oferecendo, em cada caso, uma compilação qualificada de informações e análises complementares. Um bloco final traz elaborações preliminares sobre incertezas e resistências.
Chaves de leitura
Uma transição epocal
O que assistimos desde 20 de janeiro não pode ser lido apenas como uma nova alternância à ultradireita na política norte-americana, com efeitos globais colossais em razão do poderio econômico e militar dos EUA. A avalanche desatada por Trump está reconfigurando, profunda e definitivamente, a ordem internacional estabelecida nos anos 1940, após a derrota do nazi-fascismo e que foi alterada ao fim da Guerra Fria sem, entretanto, deslocar a hegemonia norte-americana.
Na vertigem que a implosão da União Soviética provocou em 1991, aprendemos que os impactos e as direções das transições de época não se delineiam de imediato. É preciso dar tempo ao tempo para captar melhor suas direções. No caso do retorno de Trump, contudo, sinais dessas possíveis direções são bastante robustos. Ao deixar a OMS, o Conselho de Direitos Humanos da ONU e o Acordo de Paris, Trump explicitou, sem rodeios, o desprezo pelo multilateralismo que viceja na ultradireita e que também explica a vertiginosa destruição da USAID e o deslocamento de suas funções para o Departamento de Estado. Como já mencionado, as intervenções da Presidência na política externa – desacordos envolvendo a deportação de migrantes, as tarifas, a destruição de Gaza, a guerra na Ucrânia e agora o bombardeio do Irã – são guiadas pela lógica do bater para depois negociar, com todas as incertezas que esse tipo de jogo implica.
Com razão, esses traços são lidos como sintomas de uma desconstrução geopolítica conflitiva, mas definitiva. Para o filósofo brasileiro Marcos Nobre, em artigo publicado antes do ataque ao Irã, Trump escancara as disfuncionalidades da ordem instalada ao fim da bipolaridade, oficializando uma geopolítica crua e direta na qual a força – militar, territorial, econômica, cultural e tecnológica – volta a ser o critério último dos jogos de poder globais. Nobre também elabora uma extensa argumentação sobre a urgência do campo progressista e democrático de adotar uma posição realista face a essa muito volátil reconfiguração.
Leia aqui uma compilação de análises sobre o tema.
Ciclo longo, giro Gramsciasno, transnacionalismo
Sem dúvida, elementos do contexto político que antecedeu as eleições presidenciais de 2024 devem ser tomados em conta ao analisar o retorno de Trump ao poder e seus desdobramentos. Contudo, sua nova vitória deve ser lida não apenas como resultado do processo eleitoral do ano passado em termos de antecedentes imediatos, das forças aglutinadas em torno de seu projeto de poder e do perfil de seus eleitores. Pode e deve ser descrita como ponto de culminação de um longo processo de reorganização e reconfiguração do ultraconservadorismo e da extrema-direita que começou a tomar forma nos anos 1970.
A Heritage Foundation ilustra cabalmente essa longevidade. Fundada em 1974 como um dos primeiros bastiões institucionais dessa reorganização de curso longo, desde 2022 coordenou a elaboração do Projeto 2025, um plano estratégico detalhado para guiar as ações de um novo governo ultraconservador nos EUA e que vem sendo sistematicamente implementado desde janeiro.
Como analisado por Sonia Corrêa em entrevistas recentes (Revista SUR, El Diário Ar), essa reorganização ultraconservadora não se deu apenas nos EUA. Foi antecedida por movimentos intelectuais equivalentes na Europa ocidental. E, desde sempre, sobretudo pela via de conexões ultracatólicas e fundamentalistas evangélicas, implicou densos intercâmbios com a América Latina. Com variações regionais – mais secular na Europa e mais ultrarreligioso nas Américas – esses investimentos produziram um tecido transnacional híbrido, mas potente. Nos anos 1990, com o fim da bipolaridade e a recém-inaugurada digitalização da vida e da política, essa trama ganhou escala. Vinte anos mais tarde, estaria nutrindo os robustos giros eleitorais à ultradireita que iriam varrer a Europa e as Américas.
Ainda mais importante, no curso dessa reconfiguração, essas forças fizeram uma releitura sistemática de textos marxistas ou pós-marxistas, especialmente Gramsci e a Escola de Frankfurt. E adotaram novos modos de ação para impulsionar uma transformação ampla e profunda das sociedades, dos estados e mesmo das relações internacionais. Nomeada por seus criadores como metapolítica, essa revolução ultraconservadora, desde muito, investe na disputa por corações e mentes para sedimentar pari passu seu projeto político. Na literatura acadêmica sobre a extrema-direita, esse deslocamento foi chamado de giro Gramsciano (ou Frankfurtiano). Essa leitura crítica, que alguns anos atrás soava esdrúxula, nos dias de hoje é explicitada, inclusive com humor, por intelectuais partícipes dessa reengenharia.
Nos meados da década passada, as conexões transnacionais dessa nova (velha) ultradireita se complexificaram e adensaram. Isso é ilustrado pela multiplicação geométrica, desde 2019, de foros políticos tais como as Conferências de Ação Política Conservadora (CPACs) nas Américas, as Conferências do Nacionalismo Conservador na Europa, os Foros de Madrid na América Latina, bem como as cúpulas e reuniões da Political Network for Values em vários continentes. Na nova quadra iniciada em 20 de janeiro, as visões e proposições que emanam de Washington circulam por esses meandros, catalisando e contagiando dinâmicas políticas equivalentes em outros contextos, em particular naqueles em que a ultradireita continua em ascensão ou está no poder.
Leia aqui uma compilação de análises sobre o tema.
Fascismo em tempos pós-fascistas
Quando os giros eleitorais à ultradireita ganharam corpo na década passada, o termo fascismo retornou com força no vocabulário político, suscitando debates acirrados. O que estava acontecendo devia ou não ser nomeado como fascismo? Não seria mais adequado ser descrito como populismo de direita? Ou iliberalismo (um termo fabricado por Viktor Orbán)? Em 2025, como indica um recente webinário organizado pelo Le Monde Diplomatique Argentina, o debate não está esgotado. Contudo, reconhecidos investigadores do fascismo histórico, como Robert Paxton e Timothy Snyder, já não hesitam em nomear como fascistas muitos traços da cena política que vai tomando corpo nos EUA. Sobretudo, como enfatiza a filósofa feminista Verônica Gago, no debate do Le Monde Diplomatique, desde uma perspectiva do Sul Global, tanto o genocídio de Gaza quanto as condições latino-americanas tornam imprescindível o uso dessa moldura de interpretação. Também é importante sublinhar que, em junho — pouco antes do assassinato do casal Hortman e do ataque ao Irã — um manifesto global antifascista foi lançado por intelectuais de renome.
Esse novo consenso não significa, porém, que diferenças entre passado e presente possam ser borradas. Tampouco deve suscitar a aplicação generalizada e displicente do termo, banalizando sua utilização, num momento em que seu uso preciso e firme é mais que urgente. Identificar as formas contemporâneas do fascismo não é tarefa trivial. Como analisou Umberto Eco em seu texto clássico, a política e os discursos fascistas foram sempre metamórficos.
Hoje, suas mutações são cada vez mais intensas e fugazes, inclusive porque, ao longo dos últimos cinquenta anos, a revitalização do ideário e da praxis fascistas foi ajustada às condições de um mundo em que o fascismo se considerava superado. Não foi uma brigada fascista uniformizada que executou Melissa Hortman e seu marido, ferindo gravemente outro casal. Quem os matou foi um homem comum, eleitor de Trump, evangélico fundamentalista, mas os crimes podem ser interpretados como réplicas dos assassinatos fascistas do passado.
“Gênero” e “Raça” no olho do furacão
Nessa cena multifacetada e conturbada, gênero e raça não são temas laterais ou questões da pauta moral, como se costuma repetir ad nauseam no Brasil. As políticas antigênero e antirracistas ocupam um lugar central na enxurrada, inclusive porque uma aversão visceral às lutas sociais organizadas em torno dessas dimensões da vida social desde sempre animou a reorganização da ultradireita. Nos EUA, por exemplo, Stonewall (1969) e a decisão Roe vs Wade – que reconheceu a constitucionalidade do direito ao aborto (1973) – foram combustíveis das primeiras agitações ultraconservadoras articuladas em torno do Movimento da Maioria Moral.
Nos anos 1990, essas mesmas forças fabricaram a categoria acusatória “marxismo cultural” (saiba mais sobre o termo) para alvejar os ativismos antirracista, feminista (especialmente pelo direito ao aborto), pelos direitos dos homossexuais, dos migrantes e da defesa do meio ambiente, como os novos inimigos (internos) da nação americana e da civilização ocidental. Nos anos 2010, deslocamentos eleitorais à ultradireita foram, no mais das vezes, nutridos por mobilizações antigênero, as quais, no contexto europeu, estiveram (e continuam estando associadas) a pautas racistas e antimigração. Instalada no poder na Hungria, no Brasil, em governos locais tomados pelo Vox na Espanha, e mais recentemente na Itália e na Argentina, a ultradireita transportou de maneiras variadas a ideologia antigênero para a gramática estatal e as políticas públicas, como acontece agora nos EUA.
A temporalidade da política antigênero americana não coincide, porém, com o ciclo observado na Europa e América Latina. Em 2016, a campanha de Trump, embora abertamente misógina, não acionou fantasmagorias antigênero. Em 2017, Trump ensaiou uma ofensiva antitrans que não prosperou como planejado. Três anos mais tarde, já a caminho das eleições de 2020, no contexto das mobilizações Vidas Negras Importam, a ultradireita norte-americana desfigurou o termo “woke”, fabricando uma nova versão de “marxismo cultural”.
A nova invenção tanto serviu para desqualificar a luta antirracista em curso quanto para adicionar novos alvos à lista original de “coisas ruins” que, na visão da ultradireita, devem ser combatidas: o “gênero”, as ciências humanas, a teoria crítica racial, as perspectivas interseccionais. Nas eleições de 2020, ataques ferozes à diversidade sexual e à teoria crítica racial se multiplicariam nos níveis estaduais, mobilizando em seguida uma avalanche de propostas legislativas antitrans. No começo de 2023, num evento de pré-campanha, Trump declarou que seu novo governo iria combater com vigor a “ideologia de gênero” (conheça a origem da categoria). O que se assiste hoje é, portanto, uma robusta implementação dessa promessa.
Como mostram uma dezena de ordens executivas emitidas desde janeiro, esse combate sem trégua tem se traduzido sobretudo em um repúdio visceral aos direitos à identidade de gênero – ou seja, aos direitos trans – justificado em nome dos direitos das mulheres. A primeira delas, Defender as Mulheres do Extremismo da “Ideologia de Gênero” e restaurar a verdade biológica no Governo Federal, publicada em 20 de janeiro, literalmente abomina o conceito de gênero e estabelece por decreto a existência de dois sexos biológicos. Também afirma que a verdade da diferença sexual é definida na “concepção”, vinculando a política contra “gênero” às ofensivas antiaborto.
Adicionalmente, a repulsa ao gênero alimenta a ofensiva contra políticas de diversidade, igualdade e inclusão (DEI) que também abrangem medidas de coibição da discriminação e ação afirmativa para mulheres e pessoas racializadas. E tudo isso cabe na grande cesta do “wokismo”. Desde janeiro, o termo “woke”, que também inclui a acusação de “antissemitismo”, tem sido repetido ad nauseam por autoridades estatais para justificar a implosão de regras, valores, normas, políticas e instituições que a ultradireita norte-americana quer ver abolidas o mais rapidamente possível.
Leia aqui uma compilação de análises sobre o tema
Zonas inundadas e ofensivas
“Demolindo o estado profundo”
O estado de bem-estar social estabelecido nos EUA depois da grande depressão de 1920 foi desde sempre alvo do campo ultraconservador. Já durante a Guerra Fria foi associado ao “comunismo”, à “engenharia social” e à “falta de liberdade”. A partir do final dos anos 1980, esses discursos seriam turbinados com a expansão da racionalidade neoliberal (desregulação, redução do Estado, privatização) que, como se sabe, também nutre dinâmicas de desdemocratização.
No século 21, à medida em que a ultradireita se fortalecia, o ataque ao “big state” ganhou cada vez mais espaço no seu repertório intelectual e discursivo. Proliferaram teses sofisticadas sobre o totalitarismo inerente ao estado liberal, narrativas tenebrosas sobre o “estado profundo” e suas muitas figuras conspiratórias, assim como receitas para demolir essa “máquina perversa”. Entre essas últimas, contabilizam-se muitas e muitas páginas do Projeto 2025 nas quais procedimentos demolidores do “estado profundo” são descritos em detalhe para garantir que Trump fizesse agora o que não tinha feito entre 2016 e 2020.
Em janeiro de 2025, essa tarefa prioritária foi atribuída ao recém-criado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), chefiado até o começo de junho por Elon Musk. Durante seis meses, dezenas de instituições estatais estruturais foram vasculhadas, “enxugadas” ou fechadas. Significativamente, a blitzkrieg começou por duas agências de escopo transnacional: a Agência de Cooperação ao Desenvolvimento (USAID) e o Center for Disease Control and Prevention (CDC), que implementava vários programas em parceria com a USAID na área de controle de doenças transmissíveis, como HIV/AIDS.
Essa escolha confirmou o desprezo pelo multilateralismo e abriu espaço para uma exibição grosseira do combate ao “wokismo” (veja nossa compilação). Baseado em mentiras e distorções, esse combate levou ao fechamento da agência e, com isso, à suspensão de milhares de projetos pelo mundo. Uma das falsidades acionadas na cruzada contra a USAID afirmava que milhões de camisinhas doadas para Gaza tinham sido transformadas em coquetéis Molotov pelo Hamas. A Gaza realmente beneficiária da ação em questão é, na verdade, uma província de Moçambique, país com altíssima prevalência de HIV.
Em matéria recente, o New York Times relata que, embora esse não fosse o plano original, o fim da USAID estava selado em duas semanas. Esse processo sumário e atabalhoado se converteu no template para as ações de demolição subsequentes. Como afirma o jornal norte-americano, o impacto da destruição da USAID foi cruel e devastador. Essa avaliação foi confirmada ad nauseam por uma extensa cobertura sobre o que significou o desmantelamento súbito de projetos, especialmente na África e no âmbito das políticas de contenção de doenças transmissíveis, em especial o HIV (pois a USAID era a gestora do PEPFAR), mas também malária (veja mais aqui e aqui). Embora a América Latina não apareça nesses balanços, os efeitos por aqui não foram exatamente desprezíveis, em particular na Colômbia. As análises têm dado pouca atenção ao que essa destruição significa para iniciativas de promoção da democracia, em especial o apoio para meios de comunicação independentes. Da mesma forma, a suspensão de recursos para apoiar direitos LGBTQIA+ e outros efeitos, como a intensificação da criminalização, também não tiveram a merecida visibilidade. Jane Galvão fez um balanço bastante completo da crueldade implícita nessa onda de destruição.
A intervenção no CDC também deixou rastros deletérios menos debatidos fora dos Estados Unidos. De imediato, foi denunciada a censura a uma extensa lista de termos biomédicos relacionados a gênero, sexualidade e aborto. Mais tarde, em junho, um artigo do New England Journal of Medicine publicou sólidas evidências de que a base de dados de saúde do CDC começou a ser apagada tão logo Trump assumiu. A intervenção no CDC também teve efeitos drásticos sobre a implementação do PEPFAR, pois a agência era co-gestora do programa em muitos países. A reengenharia do National Institute of Health (NIH) tampouco teve maior repercussão internacional, ainda quando seu impacto sobre milhares de parcerias de instituições científicas pelo mundo afora seja também muito significativo.
Muitas outras instituições estatais foram submetidas a essa reengenharia da destruição: o Departamento de Educação que também foi extinto, o Departamento de Trabalho (Department of Labor), a agência de controle ambiental (EPA), a de Seguridade Social (Social Security) e o serviço de receita federal (Internal Revenue Service). O mesmo aconteceu com agências de fomento à pesquisa como a National Science Foundation, o National Endowment for Democracy e o Woodrow Wilson Institute, instituição histórica dedicada a estudos de multilateralismo que também foi fechada (leia nossa extensa compilação sobre a destruição implementada pelo DOGE).
Uma matéria do portal Wired descreve em detalhes como essas operações de guerra foram feitas por vorazes swat teams de jovens engenheiros recrutados por Musk. Outro artigo do portal mostra como o objetivo dessas intervenções brutais não é apenas reduzir o custo do estado, como anunciado, mas também aterrorizar funcionários e, sobretudo, coletar as bases de dados armazenadas nessas instituições, tanto para fins de vigilância como para sua eventual privatização.
Elon Musk deixou o governo intempestivamente em junho, em conflito aberto com Trump. Deixou atrás de si o rastro catastrófico dos milhares de funcionários de carreira desempregados (e a perda de conhecimento e experiência que isso implica), incontáveis projetos sociais em ruínas mundo afora e políticas domésticas de proteção social ou ambiental morrendo à míngua.
Adicionalmente, o Congresso dominado pelos Republicanos esteve, desde janeiro, cortando recursos para programas sociais, como o sistema de vouchers de alimentação estabelecido nos primórdios do estado de bem-estar social. Russel T. Vought, que coordenou a elaboração do Projeto 2025, continua sendo o xerife do orçamento federal. Ou seja, o demolidor-mor voltou ao vasto mundo dos seus negócios, mas a era de destruição não acabou, inclusive porque o orçamento recentemente aprovado adiciona água ao moinho do DOGE.
Fúria antimigratória
A fúria antimigrantes que toma a cena americana não surpreende, já que tão logo chegou pela primeira vez ao poder em 2017, Trump fechou as fronteiras para cidadãos de vários países e começou a construir um muro para separar os EUA do México e, por extensão, da América Latina. A infraestrutura que sustenta as políticas atualmente adotadas não foi criada agora – vindo de muito antes e sendo mantida durante o governo Biden –, mas sua brutalidade é típica dos tempos atuais. Ela demonstra que o antigo imaginário acerca da migração e o pote de misturas (melting pot) como valores positivos da nação americana foi definitivamente contaminado pelo racismo estrutural.
Os argumentos contra a migração reproduzem tropos do século XIX que sustentavam a escravidão. Isso foi visto nas falas de Trump sobre migrantes “selvagens” que se alimentam de pets durante a campanha eleitoral. Agora, estão gravados na nota oficial sobre assédio sexual afirmando que a invasão dos migrantes, que chegam pela fronteira sul, seria a causa do aumento do número de estupros no país. Várias vozes têm, inclusive, interpretado a política antimigratória como um regime de limpeza étnica.
Desde janeiro, assiste-se a assustadores espetáculos de arbítrio, intimidação e coerção de migrantes, ações que evocam os pogroms nazistas das décadas de 1930. Deportados algemados que são fotografados para regozijo do público MAGA, equipes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (sigla ICE, em inglês) caçando profissionais em seus locais de trabalho, crianças nas escolas, mulheres grávidas em hospitais. Há pessoas sendo enviadas diretamente de aeroportos e de suas casas para prisões que abrigam os que serão imediatamente deportados. Há muitos relatos de impedimento de acesso à justiça e, segundo Heidi Beirich, do Global Project Against Global Extremism (GPAHE), de muitas pessoas desaparecidas desde que as operações do ICE começaram.
Durante o mês de junho, mais brutalidades foram adicionadas a esse cenário. Segundo o podcast 404 Media, o ICE passou a usar uma nova tecnologia de identificação facial por celular que favorece a deportação em massa sem critérios, mesmo sabendo-se que reconhecimento facial implica graves erros de identificação. O Executivo também avançou na implementação de medidas de desnaturalização de pessoas estrangeiras acusadas de crimes graves, as quais, nas condições políticas atuais, podem deslizar em direção à punição da dissidência política, como aconteceu durante o Macarthismo.
Também foi anunciado que o governo vai criar um imposto sobre as remessas que os migrantes enviam a seus países. Em junho, Trump fez também uma espetaculosa visita ao novo centro de detenção de migrantes, inaugurado na Flórida, alcunhado de “Alcatraz dos Jacarés” ou “Auschwitz dos Crocodilos”, cujas condições remetem às piores fantasias prisionais de Hollywood. E, no começo de julho, o orçamento aprovado pelo Congresso aumentou o o financiamento do ICE de 8 para 50 milhões de dólares, fazendo dele a mais poderosa agência de aplicação da lei no país.
Como já dito desde sempre, essa guerra aberta impacta sobretudo a América Latina, pois quase 50% dos migrantes que vivem nos EUA, de forma regular ou irregular, são latino-americanos (metade deles mexicanos). Em contraste, e confirmando os marcados traços racistas dessa política antimigratória, o governo recebeu recentemente, com pompas e circunstâncias, um grupo de famílias sul-africanas brancas que, segundo as autoridades americanas e o próprio presidente, estavam sendo vítimas de “racismo reverso”.
“Estado de exceção”
Nos anos 2000, no contexto da chamada guerra ao terror, Bush reabriu a prisão do enclave de Guantánamo, em Cuba, para encarcerar prisioneiros capturados no Afeganistão e no Iraque em condições que seriam legalmente inaceitáveis nos EUA, incluídas práticas sofisticadas de tortura. Esse deslocamento do regime de “exceção” para outro lugar foi naquele momento interpretado por vozes críticas como sintoma forte de que a democracia americana, modelo icônico da democracia liberal, estava degringolando. Vinte anos mais tarde, esse regime de excepcionalidade extraterritorial foi restabelecido em termos ainda mais drásticos.
Trump, quase de imediato, estabeleceu uma parceria com Nayib Bukele para enviar “migrantes criminosos” identificados pelo ICE para o CECOT em El Salvador, país onde viceja um estado de exceção “legal” há três anos. O precedente desse acordo foi o pacto firmado em 2019 entre Trump e Bukele para recebimento de pessoas que pediam asilo nos EUA, do qual se desdobrou uma complexa e obscura relação entre as agências da lei dos dois países.
Tão logo começaram essas deportações, investigações jornalísticas revelaram que 75% das pessoas atiradas no CECOT não tinham antecedentes criminais. Entre elas estava o salvadorenho Kilmar Abrego Garcia, acusado, sem provas, de ser membro de uma gangue em seu país. Sua deportação foi questionada na justiça e ele voltou aos EUA, onde seria preso de novo, acusado de traficar pessoas. Em 23 de junho, Abrego foi uma vez mais liberado e é hoje um ícone da resistência ao furor antimigratório que varre o norte do Rio Grande.
Enquanto seu caso corria na Justiça, Trump deu um passo firme no sentido de estender o “estado de exceção” à esfera propriamente política. Sem consultar o governador da Califórnia, como determina a lei, enviou um enorme contingente da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais para reprimir protestos contra a política migratória em Los Angeles. Ao mesmo tempo, um massivo desfile militar destruía as ruas de Washington para marcar os 250 anos do exército e seu aniversário de 79 anos. Em seguida, sem autorização do Congresso, como estabelece o artigo 1º da Constituição, ordenou o bombardeio dos sítios nucleares no Irã. Para justificar essa cabal violação – e afagar setores MAGA que se opõem ao envolvimento no conflito – o vice-presidente JD Vance afirmou que os EUA não haviam entrado em guerra com o Irã, apenas “contra seu programa nuclear”.
Em junho, num novo desdobramento da política antimigração, o governo definiu restrições parciais ou totais de entrada nos EUA de pessoas portando passaportes de 12 países, anunciando em seguida que esse número poderá chegar a 50. Também foram estabelecidas regras draconianas para emissão de vistos, tanto para estudantes quanto para outros visitantes. Trâmites que já existiam, como a verificação de conteúdos postados em redes sociais pelos solicitantes, serão especialmente rigorosos. E estão sendo registrados casos de pessoas impedidas de entrar no país por terem, em suas redes sociais, críticas ao governo Trump, ao genocídio em Gaza ou qualquer outra coisa interpretável como contrária aos “valores da nação americana”.
Não menos importante, a produção de conhecimento é alvo prioritário do “estado de exceção”. A forte pressão que já vinha sido feita desde 2024 pela ultradireita contra as universidades mais prestigiosas do país, sob a acusação de “wokismo” e cumplicidade com “antisemitismo”, ganhou escala. Hoje é exercida através de coerção financeira escancarada para impor regras que comprometem a liberdade acadêmica (ver compilação). Lamentavelmente, a estratégia Trumpista está tendo resultados, pois a maioria das instituições coagidas tem cedido, produzindo uma cena qualificada como capitulação.
A exceção é a Universidade de Harvard, que desde abril tem resistido às pressões, contestando judicialmente as medidas de coerção e ganhado as causas. Ao final de junho, no seu estilo de antecipar realidades, Trump declarou que um acordo razoável havia sido firmado com a universidade. Em seguida, porém, acirrou a pressão ao acusar a universidade de violar os direitos civis de seus estudantes. Os efeitos dessas ofensivas têm contaminado de maneira extensa e profunda o ambiente do ensino superior no país.
Medidas claramente arbitrárias de indiciamento, encarceramento e deportação também estão sendo aplicadas a pessoas acusadas de “antissemitismo” ou cumplicidade com o terrorismo, como no caso de Mahmoud Khalil, estudante da Universidade de Columbia que liderou protestos pró-Palestina e que esteve preso por mais de três meses.
Como bem aponta a análise do boletim semanal do GPAHE sobre o assassinato político da senadora Hortman e seu marido, num ambiente em que o Estado joga combustível na excitação política, desobedece a lei, coage e persegue, a radicalização e violência são inevitáveis:
“A tragédia de Minnesota prova que o autoritarismo não apenas põe em risco instituições abstratas — ele assassina aqueles que defendem os princípios democráticos. Os Estados Unidos devem reconhecer que a radicalização teológica gera assassinos reais, não apenas oponentes ideológicos. Estamos vendo esse aumento da violência política que é profundamente preocupante e, ainda assim, de alguma forma muito previsível, já que o ponto de ebulição da nossa sociedade mantém tudo em alta
tensão, raiva, agressão e incitação”.
A fúria antigênero: significado e suas ramificações
O combate ao gênero
O “combate à ideologia de gênero” prometido por Trump durante a campanha eleitoral vem sendo implementado com afinco desde 20 de janeiro, com base em várias ordens executivas e outras medidas. Entre janeiro e fevereiro, foram emitidas sete ordens executivas cuja leitura recomendamos. A primeira delas estabelece o arcabouço ideológico para inscrever, por decreto, a “verdade biológica do sexo” na política estatal americana. Tão logo foi publicada, no próprio 20 de janeiro, a blogueira trans Erin Reid elaborou uma análise detalhada de seu conteúdo.
Segundo ela, a ordem não é uma lei, mas seu conteúdo transfóbico incontestável terá impactos em definições normativas no âmbito da discriminação, assim como efeitos concretos em relação ao uso de banheiros, políticas prisionais e registros de identidade social em documentos legais, inclusive passaportes. O requisito de explicitação do sexo assignado no nascimento para solicitação de vistos para os EUA, exigido das deputadas brasileiras Érika Hilton e Duda Salabert, nos diz que suas previsões foram certeiras.
A partir desse enquadramento, as demais ordens executivas antigênero proíbem a “doutrinação ideológica” no ensino básico, a participação de mulheres trans nos esportes femininos, a oferta de cuidados de saúde integral às crianças e adolescentes trans, e “justificam” a exclusão de pessoas trans das forças armadas. A semântica usada é a mesma: brutal, acusatória, inverídica, em alguns casos cruzando gênero e raça, como mostram os trechos a seguir:
“A impressão de ideologias antiamericanas, subversivas, prejudiciais e falsas nas crianças de nosso país não só viola a lei de direitos civis antidiscriminação… como também usurpa a autoridade básica dos país. Por exemplo, orientar os alunos para a mutilação cirúrgica e química sem o consentimento ou envolvimento dos pais, permitir o acesso de homens a espaços privados designados para mulheres… Da mesma forma, exigir a aquiescência ao “privilégio branco” ou ao “viés inconsciente” que promove a discriminação racial e prejudica a unidade nacional”.
“Nos últimos anos, muitas instituições educacionais e associações esportivas permitiram que homens competissem em esportes femininos. Isso é humilhante, injusto e perigoso para mulheres e meninas, e nega a elas a oportunidade igual de participar e se destacar em esportes competitivos”.
“Atualmente, em todo o país, profissionais da área médica estão mutilando e esterilizando um número crescente de crianças impressionáveis, sob a alegação radical e falsa de que os adultos podem mudar o sexo de uma criança por meio de uma série de intervenções médicas irreversíveis. Essa tendência perigosa será uma mancha na história de nossa nação e precisa acabar”.
“De acordo com a missão militar e a política de longa data do Departamento de Defesa, a expressão de uma falsa “identidade de gênero” divergente do sexo de um indivíduo não pode satisfazer os padrões rigorosos necessários para o serviço militar. Além das intervenções médicas hormonais e cirúrgicas envolvidas, a adoção de uma identidade de gênero inconsistente com o sexo do indivíduo entra em conflito com o compromisso do soldado com um estilo de vida honrado, verdadeiro e disciplinado, mesmo na vida pessoal”.
No plano ideológico, as ordens executivas do combate à “ideologia de gênero” refletem, de maneira cabal, a hibridização entre concepções doutrinárias do Vaticano e concepções biologicistas da diferença sexual defendidas e propagadas por correntes feministas essencialistas. Além disso, como analisa sagazmente Paisley Currah em artigo da The New Yorker, essas ordens não são apenas instrumentos de ataque aos grupos vulneráveis, ou combustível de pânico moral. Elas compõem o arsenal mais amplo de demolição do “estado administrativo”; isso porque um estado de bem-estar social não pode regular, assegurar proteção social ou garantir direitos se não puder ajustar seus parâmetros de classificações de indivíduos e grupos a novas demandas sociais e políticas.
Ademais, como já mencionado, o repúdio visceral ao “gênero” também serve para justificar a eliminação das políticas de Diversidade, Igualdade e Inclusão (DEI) em agências estatais, universidades e projetos financiados por recursos federais e, como se verá, também no setor privado. Como se viu, essa acusação de “wokismo” foi amplamente utilizada na vertiginosa demolição da USAID. Também funcionou como alcunha para remover dois oficiais do alto esquadrão das forças armadas – um tema espinhoso que rapidamente desapareceu das notícias.
Como observou ironicamente o economista Paul Krugman, “isso é woke” é hoje a acusação preferida para desqualificar quem quer que seja que critique as políticas de Trump. Por outro lado, regras draconianas de abolição das DEI estão sendo, de fato, aplicadas extraterritorialmente como requisito para que provedores de serviços de outros países possam assinar contratos com as embaixadas americanas. Essa condicionalidade, que fere princípios de soberania estatal – no que diz respeito à governança de direitos humanos e de cidadania – já foi contestada judicialmente pelo governo espanhol. Isso não vai impedir, contudo, que o governo Trump resolva estendê-la a outras esferas de negociação transnacional.
Direito ao aborto e ressurgência do pró-natalismo
Uma perspectiva alargada das ofensivas contra “gênero” inclui necessariamente as medidas e proposições acerca das questões reprodutivas. No que diz respeito ao aborto, tão logo tomou posse, Trump assinou uma ordem executiva proibindo o uso de dinheiro público federal no acesso ao cuidado em aborto. Previsivelmente, reativou a chamada lei da mordaça (“gag rule”), interrompendo o financiamento para ONGs internacionais e de outros países que oferecem serviços de cuidado e promovem o direito ao aborto. Nesse mesmo diapasão, os EUA retornaram ao chamado Consenso de Genebra, o clube de países que repudiam o aborto e promovem políticas familistas.
Em seguida, medidas de censura foram aplicadas ao Departamento de Saúde (HHS), cujo site desde janeiro bloqueia o acesso a dados epidemiológicos e legais sobre aborto. Subsequentemente, foram cortadas as verbas do programa Title X, destinado a serviços de planejamento reprodutivo de pessoas de baixa renda. Em paralelo ao cerco político e regulatório ao direito ao aborto, está em curso intensa campanha de desinformação contra o mifepristone – uma das substâncias que, juntamente com o misoprostol, compõem o aborto farmacológico.
Em junho, o governo revogou as normas adotadas pelo governo Biden, logo após a derrubada do direito ao aborto (Roe vs Wade) pela Suprema Corte em 2022, que garantiam o procedimento de interrupção da gravidez em gestantes em situação de emergência médica. Concomitantemente, a Suprema Corte derrotou uma demanda da Planned Parenthood of America (PPA) contra o estado da Carolina do Sul que tem graves implicações para o acesso ao aborto. A PPA é uma dos maiores provedores de serviços de aborto no país e, exatamente por isso, tem sido há muito tempo alvo prioritário da ultradireita. E, dando corpo à investida de corte radical de gastos, o orçamento sancionado no começo de julho definiu em lei uma provisão que bloqueia o acesso de clínicas de aborto a verbas do programa Medicaid destinadas a outros procedimentos e serviços oferecidos pelas instituições.
Ainda mais estarrecedor é que muito claramente essas medidas estão incitando a radicalização que explica o brutal assassinato da senadora Melissa Hortman, que era árdua defensora do direito ao aborto. Seu assassino, um extremista cristão, mantinha uma lista com nomes de profissionais de saúde e advogados ligados à garantia desse direito. Confira nossa compilação sobre o panorama do direito ao aborto no governo Trump II.
O retorno anunciado do pró-natalismo
Historicamente, a natalidade foi uma preocupação do ultraconservadorismo religioso e da extrema-direita, como bem demonstram tanto a doutrina católica quanto as políticas natalistas do fascismo histórico. E, a partir dos anos 1990, a inquietação com crescentes baixas taxas de fecundidade na Europa se tornou pauta prioritária da ultradireita renascente, sendo posteriormente traduzida nos discursos sobre “inverno demográfico” e a “grande substituição” associada à xenofobia antimigratória. Hoje, como mostra Françoise Girard, o arco neo pró-natalista vai da China aos Estados Unidos, onde até muito recentemente essas preocupações não existiam, tendo sido insufladas pelo crescimento da ultradireita e seu retorno ao poder em 2025.
Isso ficou evidente quando Trump escolheu JD Vance como candidato a vice-presidente. Ultracatólico e pró-natalista vocal, Vance repudia o divórcio e mulheres solteiras e sem filhos e apoia a criação de um “baby bonus” financeiro para famílias com crianças. Após a posse, inspirado pela política familista e natalista de Orbán, o governo emitiu uma ordem executiva facilitando o acesso ao tratamento de fertilização in vitro (FIV). Paralelamente, foram lançadas estratégias para persuadir especialmente mulheres jovens a se casarem e terem filhos com bases em programas de bem-estar e saúde, sintonizadas com o movimento Make America Healthy Again (MAHA). O governo está, também, e muito intrigantemente, implementando incentivos à fecundidade através do Departamento de Transportes.
A agenda pró-natalista nutre a sinergia entre o ultraconservadorismo religioso e os techbros do Silicon Valley, sendo Elon Musk sua mais espetacular ilustração. Pai de pelo menos 14 crianças, Musk frequentemente manifesta ansiedades sobre o “colapso da população” e está investindo financeiramente na promoção do pró-natalismo doméstica e transnacionalmente. Selou, no ano passado, uma parceria com a plataforma World XY, criada por Katalin Novak, ex-presidente da Hungria, para promover a heterossexualidade e o crescimento da fecundidade. As motivações não são, porém, idênticas em cada um desses campos. O ultraconservadorismo religioso preza a natalidade em si mesma, pois ela é um elemento nodal de suas doutrinas sobre a família natural (heterossexual). Já os techbros são os eugenistas do século 21: almejam o aumento da fecundidade entre os ricos, brancos e “mais inteligentes”, ficando os demais entregues às desigualdades, à precariedade ou, no limite, às necropolíticas implementadas pelo governo Trump. Essa diferença não prejudica, contudo, sua ação coordenada.
Musk, um ícone do techbroderismo, e Katalin Novak, porta-voz feminina do ultracatolicismo europeu, são parceiros. E o contágio transnacional dessa sinergia começa a ser flagrante para além dos Estados Unidos e Europa. Há pouco tempo Javier Milei – o best friend de Musk – afirmou que a fecundidade está baixa na Argentina porque o aborto foi legalizado em 2020. Pouco depois, um voucher família foi anunciado pelo candidato de ultradireita nas próximas eleições presidenciais chilenas, José Antonio Kast – que, em 2022, substituiu Katalin Novak na presidência da Political Network For Values. A jornalista feminista, Flor Alcaraz, respondendo ao pânico demográfico que está se instalando na Argentina, argumenta com razão que acusar o feminismo não resolve a queda de fecundidade, cujas causas são múltiplas e muito complexas.
A Corte Suprema demolindo direitos
Uma excelente entrevista publicada no ano passado pelo portal Convergence reconstrói a longa história de tomada da Suprema Corte inaugurada ao tempo da decisão Brown Vs Board of Education, de 1954, que aboliu a segregação racial na educação. Também examina como esse plano de longo curso consolidou-se durante o primeiro mandato de Trump, tendo como efeito imediato a decisão Dobbs de 2022 que revogou o direito constitucional ao aborto assegurado em 1973. Inevitavelmente, as pulsões da maioria ultraconservadora da Corte foram turbinadas pelo retorno de Trump ao poder.
Começando por decisões em relação a “gênero” e direito ao aborto, em 18 de junho, a Corte, ao julgar o caso United States Vs Skermetty, validou a decisão do estado do Tennessee de proibir serviços de atenção à saúde para crianças e adolescentes trans. A intelectual não-binária russa que vive nos EUA, Masha Gessen, em artigo de opinião para o New York Times, analisa como essa decisão, que foi “movida pelo medo”, enterrou a jurisprudência estabelecida pela mesma Corte em 2020, segundo a qual a discriminação com base em sexo se aplica à discriminação com base na identidade de gênero.
Erin Reid, por sua vez, examinou o estratagema usado pelos juízes conservadores para driblar o argumento apresentado pelos defensores dos serviços de saúde do Tennessee de que há discriminação se bloqueadores hormonais que em outros casos são aplicados a adolescentes são proibidos para crianças e adolescentes trans. Segundo ela, essa contorção abre espaço para abolir o escrutínio constitucional em casos de discriminação contra pessoas trans de modo geral. E, efetivamente, a Corte está devolvendo casos de direitos trans aos circuitos inferiores de justiça para que sejam reavaliados à luz da decisão Skrmetti. Somado à ordem executiva de “combate à mutilação”, esse veredito está, inevitavelmente, suscitando ondas de pânico.
Poucos dias antes desse julgamento Skrmetti, no escrutínio de caso de Maryland, a Corte assegurou a pais e mães o direito de impedir que seus filhos sejam “expostos” a conteúdos LGBTQIA+ nas escolas. O analista da Corte Chris Geidner observa que, quando lidas em conjunto, as duas decisões deixam claro que para a maioria conservadora da Corte as visões contrárias aos direitos LGBTQIA+ são legítimas, mas pessoas LGBTQIA+, especialmente crianças e adolescentes trans, não são dignas de proteção. Segundo a Human Rights Watch, essa segunda decisão vai incitar mais discriminação e afetar negativamente todas as crianças.
Como já mencionado, no dia 26 de junho, a Corte reconheceu o direito do governo do estado de recusar recursos do programa Medicaid para a PPA. Segundo o boletim da Kaiser Foundation, esse é um primeiro passo para a suspensão generalizada de financiamento do Medicaid para a PPA e outros provedores de aborto.
A avalanche de direitos sendo abolidos, em consonância com o Executivo, não se limita a questões relacionadas a gênero e aborto. Vem sobretudo adicionando muita água ao moinho da fúria antimigratória. No dia 21 de junho, uma primeira decisão outorgou ao Executivo o direito de deportar pessoas para terceiros países, como já havia acontecido no caso de venezuelanos levados para o CECOT, em El Salvador. Segundo Nick Turse, quando a decisão foi tomada, o Departamento de Estado estava “negociando” com outros 53 países a possibilidade de acordos semelhantes ao assinado com o país centroamericano.
Cinco dias depois, numa decisão avaliada como uma colossal vitória para Trump, foi negado poder aos juízes de circuitos inferiores para suspender os efeitos da ordem executiva que aboliu o direito automático de cidadania para crianças filhas de migrantes ilegais nascidas nos EUA. Trump comemorou a decisão, dizendo que agora seria possível alterar radicalmente a política de migração e cidadania. Entretanto, para juristas posicionados em diferentes pontos do espectro político, ao abolir o direito de cidadania por nascimento jus terris, gravado na emenda 14, de 1868, a decisão flagrantemente viola a Constituição.
Em maio, o juiz aposentado J. Michael Luttig, jurista reconhecidamente conservador, publicou um artigo denunciando “o desprezo total” de Trump pela regra da lei (rule of law). Frente à decisão de 25 de junho – e ao que ele avalia como sendo uma inaceitável cumplicidade da Corte – Luttig publicou um “texto manifesto” em que resgata princípios da Declaração de Independência, apelando com firmeza à restauração de direitos e liberdades fundamentais de minorias, migrantes e dissidentes políticos. O texto afirma que o povo não é inimigo do governo, mas sim “o governo que considera o povo seu inimigo é ele mesmo inimigo do povo”.
Reexistindo
Em 2017, José Celso Martinez, o iconoclasta diretor de teatro brasileiro que morreu tragicamente há dois anos, declarou que já vivíamos numa era em que resistir não era suficiente, estávamos desafiades a reexistir. Essa imaginação foi como bússola nos guiando no curso tumultuado dos anos Bolsonaro, mas também é uma boa lente para mapear as resistências que hoje enfrentam o cenário sombrio descrito nas seções anteriores. Circunstâncias radicalmente alteradas exigem novos ângulos de interpretação e abordagens criativas à política.
Até há pouco, resistências à desdemocratização à la Trump II foram pouco visíveis. Entre outras razões, porque não houve de imediato grandes manifestações como a colossal marcha das mulheres de 2017 que, inclusive, se replicou em outros países. Mas também porque as respostas de boa parte das instituições não foram exatamente vigorosas, a começar pela cúpula do Partido Democrata. Segundo o Senador Chris Murphy, numa entrevista feita ainda em fevereiro, o partido estava respondendo ao novo cenário de destruição com base numa lógica convencional que não iria conter a ascensão neofascista em curso.
Em abril, um editorial do NYT apelou às universidades e escritórios de advocacia atacados pelo governo que não capitulassem diante dessas pressões. Há que dizer, porém, que, à exceção de alguns editoriais e artigos de opinião, a política editorial do jornal ela mesma está crescentemente normalizando o desgoverno. O alinhamento do Washington Post, que vem sendo “depurado” por Jeff Bezos desde 2024, ao governo é ainda mais óbvio, sendo ainda mais grave a capitulação das redes de televisão.
Mas, como aponta Rebecca Solnit, resistências não são sempre ou necessariamente expressivas e dramáticas. Para além da paralisia e normalização que grassava no proscênio institucional, a reexistência estava fermentando. Desde muito cedo, plataformas como GitHub e Terra Justa começaram a identificar e informar sobre iniciativas de resistência, mas esses esforços de visibilização se reduziram, com razão, à medida que os sinais de repressão política recrudesceram. Isso não significa, porém, que as resistências não tenham seguido seu curso na defesa dos direitos dos migrantes, da autonomia universitária, assim como dos direitos ao aborto e das pessoas trans, ou simplesmente de defesa básica de direitos civis e políticos.
A agilidade, persistência e consistência da reação interposta pelos circuitos inferiores do Judiciário tem sido tão crucial quanto a resistência das bases sociais. São exemplos os casos de Kilmar Abrego e Mahmoud Khalid, as decisões que vêm contendo a sanha de Trump contra Harvard ou o veredito de um juiz de Boston suspendendo a regra que obriga pessoas trans a terem os nomes assignados ao nascimento em seus passaportes. Essa dinâmica vira pelo avesso a percepção, mais ou menos generalizada, de que a garantia de direitos é atributo das cortes superiores.
A plataforma Trump Administration Litigation Tracker espelha a escala e vigor da resistência judicial em curso nesses níveis inferiores. Contabilizando milhares de litígios que não caíram do céu, mas foram movidos por forças da sociedade civil e atores institucionais. A American Civil Liberties Union (ACLU) tem sido, por exemplo, uma peça crucial nessa equação, inclusive no que diz respeito à defesa dos direitos das pessoas trans. Mas ações muito relevantes também têm sido impetradas por instituições e funcionários afetados pela máquina demolidora do DOGE, de governos estaduais e instâncias locais. E muitas Cortes estaduais têm sido exemplares no seu empenho em garantir direitos e preservar as regras constitucionais.
Não sem razão, os circuitos inferiores do Judiciário são alvos prioritários do Executivo e agora também da Suprema Corte. No final de abril, no Wisconsin, a Juíza Hannah Dugan foi presa pelo FBI sob acusação de ter ajudado um migrante a evadir uma operação do ICE (sendo depois liberada pela Corte estadual). A decisão de 18 de junho sobre direitos de nascimento alvejou diretamente decisões sobre direito de nascimento vindas desses outros circuitos. O manifesto do Juiz Luttig não apenas denuncia a violação da emenda 14 implícita na decisão como defende, com vigor, o direito de litígio e as decisões que revogaram medidas do Executivo com base em sólidos princípios constitucionais.
Tampouco deve ser minimizada a árdua resistência que desde 2022 vem sendo exercida na própria Suprema Corte pelas juízas Elena Kagan, Sonia Sotomayor e Ketanji Brown. Essa tenacidade é ilustrada no artigo do The New Republic que analisa o voto dissidente solitário de Brown numa decisão sobre regulamentação ambiental. Segundo o autor, a juíza negra tem feito o possível e o impossível para salvar a Corte de si mesma.
Não menos importante, embora os sinais de resistência que vêm do núcleo do Partido Democrata continuem débeis, muitos governadores, prefeitos e as bases do partido estiveram se mobilizando. Foi exemplar a agilidade e a eficácia com que a polícia de Minnesota, estado governado por Tim Walz – candidato a vice-presidente de Kamala Harris – identificou e prendeu o assassino da senadora Hortman e seu marido. E, no começo de julho, o Superintendente do Departamento de Educação da Califórnia rejeitou à regra imposta pelo governo federal exigindo o banimento de mulheres trans dos esportes universitários.
No âmbito da comunicação, para além da problemática política editorial de alinhamento da grande imprensa, milhares de veículos vêm produzindo um volume colossal de informação crítica sobre os desastres em curso, muitos dos quais são as fontes principais deste boletim: Wired, Mother Jones, The Nation, ReWired, Erin in the Morning, Them, The New Republic e centenas de blogs, podcasts e plataformas de monitoramento.
Esses rizomas nem sempre visíveis de resistência desaguariam em expressões dramáticas, performáticas e positivamente políticas da resistência que irromperam quando se completaram 180 dias de governo. Vieram primeiro os protestos de Los Angeles drasticamente reprimidos. Aí, assistimos ao senador Alex Padilla ser algemado numa audiência pública com a Secretaria de Segurança, Kristi Noem, ao mesmo tempo em que o envio da Guarda Nacional à Los Angeles (Califórnia), sem autorização do governador, era contestado judicialmente. Em seguida, as manifestações multitudinárias Rei Não- No King tomaram o país enquanto Trump se refastelava no desfile militar do “seu aniversário”. Logo depois, Zohran Mamdani, dos Socialistas Democratas, foi escolhido como candidato a prefeito nas primárias de Nova Iorque. Derrotou o ex-governador Andrew Cuomo – que renunciou ao governo do estado de Nova Iorque em 2021 sob acusações de assédio sexual -, as oligarquias financeiras que o apoiavam e a “política do mais do mesmo” conduzida desde muito pelo Partido Democrata.
Essa sequência parece ser indício de um ciclo de reexistência ganhando corpo no tecido político norte-americano. Mas é bom lembrar que desdemocratização e neofascismo estão por toda a parte, sendo catalisados e retroalimentados pela enxurrada desatada desde Washington. Sendo assim, toda e qualquer forma de resistência aos demais regimes de extrema-direita que coludem com o que se passa nos EUA devem também ser contabilizadas.
Por exemplo, na Argentina, em fevereiro, em seguida à posse de Trump, convocou-se uma marcha LGBTQIA+ fora de hora não por razões internas, mas para responder a mais uma rodada de vitupérios anti-“woke” proferidos por Milei no Foro de Davos. Aconteceram manifestações em centenas de cidades argentinas e algumas em outros países. Embora convocados pelos movimentos de dissidência sexual e feministas, os protestos foram interseccionais, envolvendo aposentadas/os, pesquisadoras/es e acadêmicos e setores populares (confira a compilação sobre a cena de resistência argentina).
No final de março, contagiado pelas emanações trumpistas, o Parlamento húngaro, não sem protestos, aprovou uma emenda constitucional abolindo as Paradas do Orgulho LGBTQIA+ e impondo multa de 500 euros a quem infringisse a nova norma legal. No dia 28 de junho, a data de Stonewall, 200.000 pessoas tomaram as ruas de Budapeste no que pode ter sido a maior manifestação pelos direitos LGBTQIA+ já acontecida na Europa. O mundo inteiro comemorou enquanto Orbán se retorcia para explicar a insurgência e a incompetência do regime para coibi-la. Num artigo para o site Autostraddle, Julie Dorf e Jessica Stern resgataram a longa trajetória da resistência húngara, buscando inspirações para continuar nutrindo a reexistência nos Estados Unidos. Uma de suas conclusões é que “as pessoas na Hungria entenderam que os direitos LGBTQIA+ são inseparáveis da luta mais ampla contra o autoritarismo. Não é apenas sobre as pessoas queers, é sobre combater a corrupção e lutar por democracia e igualdade”.
Arte & Reexistência
Em outubro de 2018, republicamos o pequeno ensaio Shibboleth: Rachaduras Letais, de Sonia Corrêa, inspirado pela intervenção de Doris Salcedo no hall da Galeria Tate Modern. A obra conjura o mito bíblico dos Eframitas massacrados numa fronteira por não saber pronunciar, corretamente, a palavra shibbolet. Morrer nas fronteiras ou nos limites do político é o que assistimos nos tempos de agora.
Em janeiro de 2017, Shibboleth evocava a nefasta justificação de proteção da igualdade de gênero e dos direitos LGBTQIA+ para fechar fronteiras que, desde algum tempo, grassavam na Europa e acabavam de ser incluídas num dos primeiros decretos de Trump I. Em 2018, a metáfora enunciava a letalidade potencial da polarização institucionalizada implícita na vitória de Bolsonaro. Em junho de 2025, pode conjurar imaginários de resistência às fronteiras letais e à erradicação de quem fala outra língua que não a do neofascismo.
Arte como Premonição
Em maio de 2017, o site DesignMantic publicou trabalhos de 20 artistas que já viam o primeiro mandato de Trump como um “regime atroz”, e três obras associam abertamente Trump ao nazi-fascismo ou à tirania.
Humor e resistência
Os imaginários conjurados por Shibboleth têm muitas caras, inclusive o humor. São exemplos as centenas de memes criados para comemorar a vitória de Mamdani nas primárias de Nova York. Os memes foram objeto de uma matéria do Hyperallergenic intitulada Os memes de Zohran Mamdani nos lembram que coisas boas ainda podem acontecer.
250 anos da Independência e outros momentos sombrios
Em 2026, a Declaração de Independência Americana, hoje lida de novo como texto de resistência e insurgência, completa 250 anos. Em todo país, museus de história estão colecionando desejos de feliz aniversário. Escritos em paredes e plataformas virtuais, as mensagens revelam a imagem de um país radicalmente dividido, mas desesperadamente esperançoso. Algumas instituições estão exibindo memórias de outros momentos de arbítrio e perseguição da dissidência. No Museu Histórico de Nova York, a exibição Blacklisted: An American Story resgata a trágica memória do “pânico vermelho”, instalado pelo Comitê de Atividades Antiamericanas na década de 40 e que perseguiu e encarcerou roteiristas, diretores, atores e atrizes de Hollywood.
Drags insurgentes
Em junho, quando Donald Trump foi assistir a “Os Miseráveis” no Kennedy Center, em Washington, as drag queens Tara Hoot, Ricky Rosé, Vagenesis, e Mari Con Carne também foram ao teatro. Completamente paramentadas, foram muito aplaudidas. Em entrevista ao The Advocate, Mari Con Carne disse:
“Como drag queen, queríamos deixar claro que eles podem nos impedir de atuar nos palcos, mas não podem nos apagar se estivermos na sua presença. Como imigrante, afirmo que permaneceremos aqui e os enfrentaremos com coragem”.
Recomendamos
A direita e o correto – Entrevista com Juan Elman traduzida ao português
Roteiro do governo Trump 2.0 segue cartilha de autocratas, mas também ‘inspira’ aliados no exterior – O Globo
Como volta de Trump pode levar democracia dos EUA ao colapso – Folha de São Paulo
Pasión por la destrucción – Nueva Sociedad
The War on the Liberal Class – Social Europe
How Trump Happened – James K. Galbraith – Project Syndicate
The Trump Crackdown on Elected Officials – New Yorker
Donald Trump’s Dictator Cosplay – New Yorker
One hundred days of autocracy – New Statesman
ESSAY: Billionaire do-gooding is out. Naked oligarchy is in – Anand Giridharadas – The Ink
Trump’s Washington Is a Technofascist Fantasy—With or Without Musk – Mother Jones
Recursos
Informe “Da Economia da Ocupação à Economia do Genocídio” (em sete idiomas)
6 Tools for Tracking the Trump Administration’s Attacks on Civil Liberties – Wired
Oportunidade
Taller · Periodismo internacional. Caja de herramientas – Le Monde Diplomatique
__________________________
Notas de rodapé
[1] Ver https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/caduc/article/view/27547/20695
[2] As referências principais são Giorgio Agaben em Homo Sacer e Judith Butler, em Vidas Precárias e Quadros de Guerra. Carla Rodrigues e Isabela Pinto dialogaram com essas elaborações em texto publicado em 2020. Ver: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/remate/article/view/8658069/22520
[3] Restrição total Afeganistão, Mianmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. Restrições parciais para Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão.
[4] No começo de julho, Erin Reid informou que os primeiros passaportes com nome social já haviam sido emitidos.
[5] Muito embora alguns meses antes o governador Newsom houvesse feito declarações favoráveis a tal exclusão.