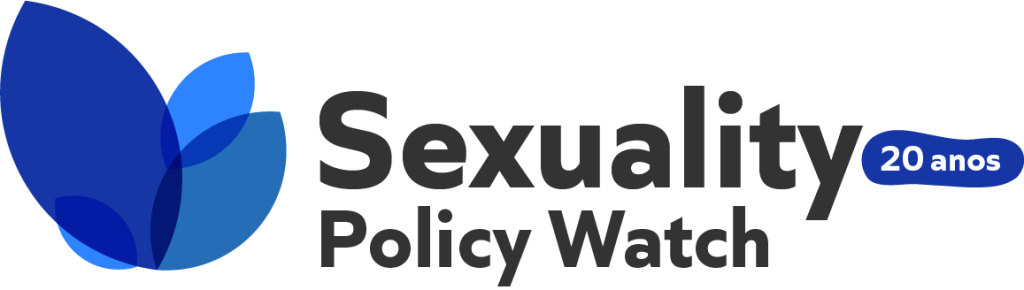Originalmente publicada em Ideas Letter
O jornalista Juan Elman é um cronista da extrema direita global e das suas raízes no meio da onda de insatisfação que tem abalado as estruturas políticas em todo o mundo — especialmente o apelo que essas ideias exercem sobre a sua própria geração. A análise perspicaz e o jornalismo rigoroso de Juan, bem como o seu compromisso em compreender as emoções subjacentes a essas mudanças políticas reacionárias, tornam a sua voz essencial.
Esta troca de cartas, que durou um mês, foi ligeiramente editada para maior clareza e concisão.
Leonard Benardo: Para começar, como alguém que acompanha a direita global há alguns anos, o que o surpreendeu, se é que houve algo, nos últimos seis meses? Algum aspecto da “caixa de ferramentas” autoritária (como alguns insistem em chamá-la) foi novo para você? Ou tudo isso já é notícia velha?
Juan Elman: Vivemos numa época em que é complicado rever tudo o que aconteceu numa semana.
Imagine seis meses! Mas eu diria duas coisas para começar. Este cenário em que a determinação de Trump em implementar uma agenda radical se mistura com o caos, erros permanentes e uma atitude desorientada e passiva da oposição institucional era de se esperar há seis meses. Talvez eu esteja surpreso com a rapidez com que Trump perdeu uma certa aura de invencibilidade que tinha no início, especialmente entre os seus acólitos. Não é difícil encontrar vozes dentro do ecossistema trumpista que já consideram o projeto perdido, como se Trump tivesse sido derrotado pelo establishment mais uma vez. O que é interessante, porém, é que essa perda da percepção de invencibilidade não colocou sua coalizão em risco. A direita continua unida, apesar de algumas fissuras, e isso não é um fato menor. Também acho que parte da oposição, especialmente a oposição institucional, parece ter acreditado na narrativa de que a agenda de Trump foi cooptada pelo establishment, principalmente pelo poder judiciário. Pelo menos foi o que notei há alguns meses. Nestas últimas semanas, especialmente depois que a Suprema Corte restringiu a capacidade dos juízes federais de impor limites às ações do Executivo, a oposição voltou a ficar em alerta máximo. Mas, durante todo este tempo, o governo tem anunciado medidas cujos efeitos sobre a economia, o tecido social e, especialmente, o poder dos Estados Unidos no mundo têm sido devastadores. O futuro da batalha jurídica, entretanto, é imprevisível. Penso que, por vezes, é difícil fazer um balanço do que estamos vivendo e, por vezes, vejo nisso uma espécie de dissonância cognitiva.
A segunda surpresa, em relação à “caixa de ferramentas” autoritária, talvez seja o papel que o modelo de El Salvador tem desempenhado na sua política externa, com os migrantes como moeda de troca. O presidente Nayib Bukele conseguiu exportar partes das suas políticas controversas de emergência — ele governa sob um estado de exceção no qual certas garantias constitucionais estão suspensas há mais de três anos — como modelo para outros líderes, especialmente latino-americanos, lidarem com Trump: se quiserem se dar bem com o chefe, devem receber migrantes, independentemente de sua origem ou status. Em troca, você recebe algum dinheiro e elogios. Esse aspecto me surpreende mais do que outros acontecimentos recentes, como os ataques às universidades ou à mídia, que são sem dúvida preocupantes, mas também previsíveis.
LB: Como alguém que dedicou considerável energia a acompanhar o mundo de Trump, tudo o que estamos testemunhando é, na sua opinião, sobredeterminado?
JE: Isso depende do que você entende por “sobredeterminado”. Se pergunta se este cenário era inevitável, a minha resposta rápida é que não. Muitas coisas poderiam ter sido feitas nos últimos anos para evitar o que estamos testemunhando agora. Ou talvez se você se refere ao mal-estar e ao ressentimento da base trumpista e à direção que essa bola de sentimentos poderia tomar quando combinada com a irritação da era digital. Muito já foi escrito sobre isso, e eu tendo a concordar com as análises que colocam o foco nas raízes profundas desse mal-estar e ressentimento. Mas muitas vezes essas análises acabam subestimando o papel do próprio Trump em tudo isso, como se ele fosse um mero coadjuvante nessa história. Se há uma coisa que aprendi cobrindo o mundo do trumpismo, é a singularidade e o peso que a figura do líder tem. Trump é mais do que um sintoma: ele representou politicamente esse mal-estar e ressentimento da sua base, e é o único capaz de levá-la adiante e dar-lhe sentido. Ele também conseguiu incorporar novos e fiéis seguidores, muitos dos quais são jovens. Portanto, não é que ele seja insubstituível, o que ele é. É que a singularidade da sua figura – do próprio Trump – é mais importante do que muitas vezes parece.
LB: Por que acha que Trump não tem sido frequentemente interpretado como uma força por direito próprio, mas sim, como diz, um «acessório» no momento certo? Será porque o poder da direita é frequentemente visto como um projeto de longo prazo: todos aqueles esforços contra-hegemónicos gramscianos, desde a Federalist Society até aos níveis mais baixos, e, portanto, razões estruturais têm primazia sobre interpretações centradas no agente? Isso seria, claro, um contraste curioso com a abordagem mais tradicional da «grande personalidade da história» que os conservadores favorecem, não? Que outras razões você apresentaria para explicar por que Trump não é visto como uma variável independente em tudo isso?
JE: Essa é uma ótima pergunta. Os argumentos sobre as causas estruturais do recente avanço da extrema direita tendem a ser mais sofisticados e intelectualmente desafiadores do que prestar atenção à própria liderança de Trump. Analisar a figura do líder pode parecer vago ou até preguiçoso em comparação com análises estruturais, embora haja fundamentos históricos para fazê-lo. O desafio é compreender os elementos do líder que servem para catalisar, representar e amplificar o mal-estar da época, que servem como unidade de análise para comparar com outros momentos históricos. Para esclarecer: acredito que é de vital importância prestar atenção ao longo ciclo de transformação da direita, com a virada gramsciana como um dos seus elementos, bem como às raízes estruturais do mal-estar social americano nas últimas décadas. Mas quem passa tempo com os apoiantes de Trump sabe que há certas qualidades do próprio Trump que são — para dizer de forma pouco sofisticada — especiais. Ele consegue mobilizar vários graus de afeto. Ele consegue reunir um grupo de senhoras brancas do sul que o reverenciam como uma figura religiosa, bem como pessoas apolíticas que simplesmente querem fazer parte do fenómeno, mesmo que com menos intensidade. Há peças ideológicas e sociológicas que só se encaixam por causa do Trump. É importante compreender isso. Trump é o único político nos Estados Unidos neste momento que lidera um movimento. E penso que é também por isso que o debate sobre a solidez da sua coligação, ou sobre até que ponto o seu poder eleitoral é circunstancial (e, portanto, frágil), está sempre em aberto. Isto tem a ver com a volatilidade da política contemporânea, mas também com o papel único que ele desempenha ao dar coesão e existência ao movimento.
E acrescentaria mais uma coisa. É normal ver o seu rival ideológico como mais forte e mais coerente do que realmente é. A direita intelectual também fala da esquerda como um movimento poderoso e produto de uma longa marcha, que incluiu a sua própria reviravolta gramsciana (aliás, acho que essa é uma leitura mais comum entre os ideólogos de direita latino-americanos, como Agustín Laje). A direita geralmente pensa que opera a partir de uma posição de fraqueza. E a esquerda muitas vezes acredita nessa narrativa.
Um dos principais problemas da esquerda hoje é a distância entre pequenos movimentos sociais atomizados que expressam diferentes demandas e partidos políticos deslegitimados, vistos como parte de uma ordem falida. Um teórico do populismo latino-americano diria que somente a chegada de um líder, cujo momento e condições de ascensão são imprevisíveis, pode dar sentido a um novo movimento, articulando suas demandas. O problema com essa ideia é que ela parece muito abstrata e voluntarista. Parece que estamos à espera da chegada de um messias. Embora, neste momento, talvez não seja pedir muito por um.
LB: Você também afirma que Trump perdeu a sua aura de invencibilidade. Está dizendo isso no contexto dos últimos meses? Na sua opinião, ele realmente teve essa aura em algum momento e, se sim, o que aconteceu para esgotar a sua potência? E o que é exatamente essa dissonância cognitiva de que fala?
JE: Talvez “aura de invencibilidade” seja um pouco exagerado, mas há algo na percepção do seu poder que parece ter mudado após os primeiros meses no cargo. Após as eleições de 2024 e mesmo durante as primeiras semanas da sua atual presidência, havia um consenso de que Trump tinha circunstâncias mais favoráveis do que em 2017 para avançar com a sua agenda. Lembro-me de ter lido numa coluna algo que achei acertado: que na sua primeira vitória, Trump parecia um vestígio do passado, um suspiro agonizante que interrompeu o desenvolvimento dos acontecimentos políticos das últimas duas décadas, enquanto em 2024 ele parecia mais contemporâneo, mais um prenúncio dos tempos que se avizinhavam. Essa ideia foi reforçada pela inclusão de uma parte significativa do Vale do Silício na coligação trumpista, embora seja uma aliança que ainda não parece muito sólida.
Talvez estejamos agora num capítulo diferente. Percebi há algumas semanas, especialmente devido à resistência dos tribunais judiciais, que a sua imagem de poder tinha diminuído um pouco. Lembro-me de ler comentadores da direita e da esquerda que diagnosticavam que Trump estava perdendo a sua batalha contra o establishment e que estávamos assistindo a um ponto de viragem. O último pode ser verdade; quanto ao primeiro, não tenho tanta certeza. Penso que o ímpeto do governo entrou numa fase de calmaria, o que era de se esperar, e não está claro o que vai acontecer agora, especialmente após a decisão da Suprema Corte sobre as liminares universais, que parece ter reenergizado a base trumpista, bem como os recentes ataques ao Irã.
É sempre possível que Trump dê dois passos à frente e um atrás, especialmente se se sentir encurralado e com uma janela de oportunidade cada vez menor, em parte devido às próximas eleições intercalares. Mas me pergunto se devemos acreditar nessa ideia de que Trump será impedido, porque é reconfortante. O poder destrutivo deste governo é enorme, e estamos assistindo grandes batalhas todos os dias, desde os ataques às universidades até batalhas literais nas ruas de Los Angeles. A ideia de que Trump acabará por ser derrotado pelo establishment pode ser reconfortante. De certa forma, é semelhante ao que eu dizia sobre o messias: é um gesto voluntarista. É isso que quero dizer com dissonância cognitiva: ninguém ignora que estamos vivendo um momento excepcional e transformador, mas parece que não estamos agindo como tal. Li recentemente um artigo no The Guardian que revisitou o conceito de hipernormalização na era soviética: todos sabemos que as coisas estão desmoronando-se e que a ordem está ruindo, mas continuamos como se nada tivesse acontecido. O texto ressoou em mim porque a mesma coisa acontecendo na Argentina. Até inventámos outro termo para isso: chamamos de fingiendo demencia, fingir demência.
LB: Gostaria de perguntar sobre o termo “caixa de ferramentas”. Ele é útil para o seu próprio pensamento comparativo sobre a direita ou confunde mais do que esclarece? Por que acha que se tornou uma palavra de ordem para interpretar a prática autoritária? É, em última análise, um conceito preguiçoso?
JE: Como fiel crente de que os Estados Unidos deveriam prestar mais atenção ao resto do mundo, defenderei o conceito de “caixa de ferramentas”. É útil para compreender como a direita está construindo um repositório comum de narrativas, ideias, estratégias e práticas que se espalham com a velocidade do discurso digital, mas que também ocupam um lugar importante em fóruns presenciais, como a CPAC. Penso que é importante prestar atenção à direita global, não para prever o comportamento dos seus líderes, mas para compreender a sua componente transnacional. As experiências de cada caso nacional são levadas em conta pelos líderes de extrema direita. Neste sentido, penso que é útil, embora seja importante não o ver como um «manual» fechado e predeterminado, mas como um repositório aberto e dinâmico, que se adapta a diferentes contextos, mas que também é construído coletivamente. Não me parece preguiçoso. É mais preguiçoso não olhar para o que está a acontecer no resto do mundo e refugiar-se nas particularidades de cada caso, que sempre existem.
LB: Também gostei de seus dois elogios às explicações centradas na liderança, especialmente em relação a Trump. No entanto, a sua sugestão de que Trump entrou em mundos perceptivelmente diferentes em 2016 e 2024 ainda indica uma dimensão estrutural. Ecoando Marx, as pessoas fazem a sua própria história, mas não em circunstâncias escolhidas por elas mesmas! A agência e a estrutura são sempre, em algum nível, interdependentes.
Quando aponta de forma intrigante para a mobilização de «diferentes graus de afeto», isso faz-me questionar o quão distinto Trump é em bordar sensibilidades diferentes — muitas vezes muito diferentes: a apolítica, a religiosamente febril, a cidadã engajada. Pode citar outros casos de populistas de direita que foram capazes não apenas de conciliar, mas de integrar em um movimento maior comunidades tão diferentes? E por falar em movimentos, você diz que o MAGA é o único movimento na cidade (nos Estados Unidos). Você poderia explicar um pouco melhor? Entendi bem que um movimento diferente precisaria ter todos os atributos certos para competir com o MAGA: liderança carismática; doutrina política claramente articulada; mobilização de baixo; e assim por diante?
JE: Um caso interessante a ser analisado é o de Jair Bolsonaro no Brasil. Em 2018, ano em que ele foi eleito, a antropóloga brasileira Isabela Oliveira Kalil publicou um artigo fascinante mapeando os eleitores de Bolsonaro e seu sistema de crenças. Ela chegou a 16 perfis diferentes de eleitores. Havia famílias da classe média urbana mobilizadas pelos casos de corrupção contra o Partido dos Trabalhadores [PT], a polícia, os militares, pastores evangélicos – perfis típicos dos eleitores históricos da direita –, mas também novos perfis, como jogadores de jogos eletrônicos com menos de 25 anos ou mulheres contra o discurso da «vitimização feminista». Isabela fala até de eleitores afrodescendentes e indígenas que se rebelam contra o que consideram hipocrisia e condescendência da esquerda. Menciono este relatório porque me parece que ele revelou muitas tendências que surgiram com força vários anos depois nos Estados Unidos, especialmente no caso dos jovens e das minorias.
A segunda coisa que acho interessante neste estudo é que Isabela encontra um modelo para explicar os pontos de conexão entre esses perfis de eleitores, que é o do “cidadão de bem”. O conceito teve grande força explicativa no contexto das mobilizações contra o PT nos anos anteriores, ao descrever cidadãos que se opunham à corrupção e, portanto, ao PT. Rejeitar o PT era, de certa forma, rejeitar a corrupção do Estado. Mas, nos anos seguintes, a “cidadania de bem” começou a se expandir, significando cada vez mais coisas. Um cidadão de bem passou a ser aquele que rejeita a “ideologia do gênero” e que adere ao projeto de “Deus, Pátria e Família”, popularizado por Bolsonaro. E, fundamentalmente, um cidadão de bem também é aquele que prospera economicamente sem ajuda do governo.
Menciono isso porque toda vez que leio sobre este cidadão de bem, penso em Milei e em como ele também conseguiu criar uma figura do “argentino íntegro” que rejeita a assistência estatal e a agenda progressista como se fossem parte da mesma coisa. Não é por acaso que Milei fala de argentinos íntegros em oposição à casta, que inclui políticos, mas também acadêmicos, jornalistas, artistas e intelectuais que «se aproveitam» do Estado num país cada vez mais pobre e desigual. Aqui temos um líder capaz de construir um «nós» contra um «eles» bem definido. O interessante é como, a partir de eventos que marcam uma ruptura com a ordem atual — uma série de mobilizações de massa contra a corrupção ou uma crise económica —, eles conseguem reunir uma diversidade de demandas, agendas e sensibilidades.
Sobre a questão do MAGA como movimento social, vou responder rapidamente. Numa coluna escrita há alguns anos, Julia Azari tentou diferenciar as bases tradicionais de um partido político das de um movimento social, que não só são mais leais ao líder e apresentam maior convicção ideológica, mas também lutam por uma mudança radical. E Trump, diz Azari, deve ser entendido como o líder de um movimento social que capturou um partido. Essa distinção é útil, embora seja importante notar que nem todos os eleitores de Trump fazem parte desse movimento e que a sua coligação eleitoral também é suscetível aos altos e baixos da política. Mas compreender o núcleo do MAGA e o seu domínio sobre o partido é compreender que o seu comportamento não é o da base tradicional de um partido e que certamente não há nada semelhante do outro lado. Nesse sentido, é único. Dentro do MAGA, a ascendência que Trump tem é incomparável à de qualquer outro líder partidário. E, novamente, acho que a dimensão emocional é útil. Quando você vai à CPAC e vê como essas pessoas que vêm de diferentes partes do país se reconhecem e interagem entre si, você sabe que está na presença de algo que não tem nada a ver com o que está acontecendo no Partido Democrata. É um movimento que existe por causa de Trump.
E, quanto à última pergunta, o que é importante é a presença de uma liderança carismática e a mobilização «de baixo», que, em determinado momento, entra em conflito com o institucionalismo do Partido Republicano e o supera ou funda algo novo. A existência de um «roteiro político articulado» não me parece tão importante. Mas uma narrativa é. Um mito.
LB: Sobre o Brasil, ouvimos muito sobre as ansiedades em torno de Lula, que está se aproximando dos 80 anos e com índices de popularidade bastante baixos (cerca de 28%). Será que um número suficiente de brasileiros fechará os olhos, como muitos fizeram no mundo de Biden, e deixará isso acontecer? Mais interessante para mim, com base na sua grande experiência, é se existe algum bolsonarista que possa suceder o ex-presidente de forma credível. Em alternativa, você prevê que o bolsonarismo já tenha chegado ao fim e que os seus melhores dias já tenham passado?
JE: Acabei de regressar de uma viagem ao Brasil, por isso tenho algumas impressões recentes, embora deva esclarecer que não sou especialista. Mas a minha sensação, ao falar com pessoas próximas do PT, é que, a menos que aconteça algo imprevisto, ele será novamente candidato, desta vez com sérias hipóteses de perder. Naturalmente, há preocupação com a sua idade, mas outro problema igualmente importante é a falta de realizações para mostrar por um governo que assumiu com grandes expectativas. Lula não só não tem um sucessor à vista, como todos os parceiros do seu governo – que funciona na prática como uma coligação – parecem insatisfeitos, o que é um mau sinal. As pesquisas mostram que ele continua competitivo e não tem rivais próximos no campo de centro-esquerda, mas uma vitória em um segundo turno, como é esperado, seria difícil. Lembre-se de que, em 2022, Lula venceu o segundo turno por apenas um ponto. Hoje, a esquerda precisa de um milagre para triunfar num segundo turno1.
O campo da direita está ficando muito interessante. A questão é quem receberá a bênção de Bolsonaro, que está impedido de concorrer devido a uma decisão judicial. O candidato mais forte no momento é Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo com formação militar e que fez parte do governo Bolsonaro. As suas credenciais são sólidas. Mas resta saber o que acontecerá com Michelle, esposa do ex-presidente. Os rumores são de que Michelle poderia ser a vice-presidente de Tarcísio em um acordo negociado com Bolsonaro, mas isso não está claro. Outro governador de direita, simpatizante de Bolsonaro, também pode surgir. E se o ex-presidente conseguir colocar seu sobrenome na chapa por meio da esposa, a grande questão será a natureza de sua influência em um eventual governo, o que nos levaria a outra questão bem conhecida no presente latino-americano: a coexistência tensa entre presidentes e vice-presidentes, que às vezes (como aconteceu na Argentina com Cristina Kirchner) pode ser uma fonte de instabilidade. Outro ponto interessante de comparação com os Estados Unidos é que os Bolsonaros agem como um clã, mas nem sempre se dão bem entre si, e parece haver uma divisão entre a atual esposa de Bolsonaro, Michelle, e os seus filhos, especialmente Eduardo, seu principal porta-voz nos fóruns globais de direita. À disputa dentro da direita soma-se a disputa dentro da família.
Acho que é muito cedo para enterrar o bolsonarismo. O ex-presidente realizou grandes comícios de pessoas que protestam contra a decisão de desqualificá-lo. Os processos judiciais contra ele — que os seus seguidores interpretam como perseguição — mostraram que Bolsonaro flertou com um golpe de Estado. Mas isso parece fortalecê-lo politicamente, a julgar pela lealdade dos principais candidatos à presidência, incluindo Tarcísio. A resiliência de Bolsonaro não deve ser subestimada.
Dito isso, se a direita voltar ao poder sem Bolsonaro como presidente, um cenário incerto se abrirá. O paradoxo é que, numa perspectiva regional, a extrema direita enfrentará pela primeira vez o desafio que os movimentos de esquerda enfrentaram na Argentina, na Bolívia e no Equador, em que os sucessores de líderes populares que ainda estão em cena chegam à presidência. Nos três casos, houve problemas. A extrema direita terá um teste semelhante no Brasil se conquistar a presidência.
Acredito que a questão da sucessão na liderança da extrema direita contemporânea não foi muito estudada, talvez pela falta de casos de sucesso. Até agora, os desafios eleitorais de novos candidatos a líderes estabelecidos (estou pensando em Ron DeSantis nos Estados Unidos e Éric Zemmour na França, por exemplo) não tiveram sucesso. Os líderes originais persistiram. O único caso que me vem à mente em que os eleitores de extrema direita mudaram de líder é o de Giorgia Meloni, na Itália, que conseguiu conquistar a base de Matteo Salvini. Mas acho que ela é a única. Nesse sentido, as eleições no Brasil e na Hungria, onde Viktor Orbán enfrenta pela primeira vez um desafio da direita (por Péter Magyar), serão muito interessantes de acompanhar.
LB: Muito obrigado, Juan, por estas reflexões e explicações, que oferecem muito material para reflexão. Há muito que acredito que uma das principais forças da política contemporânea e uma das menos estudadas é a hipocrisia e os dois pesos e duas medidas. Acredito que a direita se beneficiou mais disso, talvez porque os liberais toleram mais facilmente a hipocrisia, ou porque a direita a tornou parte central de sua retórica política. Você vê a questão da hipocrisia política entre países mais como um fenômeno que a direita explorou e qual é a sua compreensão acerca da ideia fixa em que ela parece ter-se tornado?
JE: Acredito que a direita conseguiu apontar e tirar partido de uma característica bastante presente na esquerda contemporânea: um certo sentido de superioridade moral.
A ideia de que os líderes, intelectuais e eleitores de esquerda olham com desdém para as pessoas que são mais propensas a votar na direita, pessoas menos instruídas, mais religiosas e mais conservadoras em geral. E acho que há alguma verdade nisso. Por outro lado, algo que ficou claro nas últimas eleições nos Estados Unidos foi como um discurso crítico à liderança de esquerda surgiu em diferentes comunidades latinas e negras, pilares da coalizão democrata que parecia ter o apoio desses grupos garantido. Isso não é novidade, e essa crítica sempre esteve presente nas minorias que votavam na direita, mas nas últimas eleições ela surgiu com força e aponta para algo importante.
Especificamente sobre a questão latina, a direita está se aproximando destes grupos de uma forma mais aberta à escuta, enquanto a esquerda muitas vezes demonstra desinteresse e, por vezes, desdém, para não falar de racismo. É muito mais comum ouvir e falar espanhol na Convenção Republicana do que na Convenção Democrata. Isto não quer dizer que a direita não seja hipócrita com estes grupos, para com os quais repetidamente expressou profundo desprezo. Mas conseguiu explorar a distância que a esquerda por vezes mantém com estes grupos. Retomando o cerne da sua pergunta, penso que a diferença é que, no seu discurso, a esquerda nega essa distância, enquanto a direita trabalha ativamente para a colmatar.
Versões desta dinâmica também aparecem na América Latina, onde setores precários e empobrecidos denunciam a esquerda por estar desconectada das suas preocupações, mesmo que a esquerda afirme, acima de tudo, representá-los. A direita não fez nada por esses grupos, mas não tenta falar por eles. Suponho que esta seja uma forma de dizer que concordo com a forma como esta hipocrisia específica – uma mercadoria espalhada por todo o espectro ideológico – afeta mais a esquerda hoje, que também é acusada de ser inautêntica. Mas isso me leva a sugerir que precisamos prestar mais atenção a um elemento importante: o dinheiro. Muitos líderes da esquerda contemporânea, sem distinção de partido ou idade, vivem como pessoas abastadas, num contexto de empobrecimento generalizado. Penso que existe um fenômeno de oligarquização gradual dentro da esquerda ao qual temos prestado pouca atenção e que é bastante importante.
LB: Quais são as implicações do conceito de «cidadão de bem» que você apresenta aqui de forma tão instigante? Suponho que devemos ficar satisfeitos por, pelo menos, a direita falar de cidadãos e não de súbditos (embora suponha que alguns possam gravitar em torno deste último conceito!), mas o que isso significa para aqueles que não são «cidadãos», de bem ou não? Os venezuelanos no Brasil, por exemplo, ou os haitianos na Argentina, poderão alguma vez ascender a «cidadãos de bem» ou a direita já sabe de quem fala?
JE: É claro que o conceito de “cidadão de bem” é, quase por definição, uma categoria excludente. Pessoas que não se conformam com a moralidade sexual tradicional ou que precisam de assistência social porque suas vidas podem estar em perigo são excluídas do campo, cujas fronteiras são definidas pela direita. A questão dos estrangeiros nos leva a um terreno interessante. Quando Bolsonaro e Milei falam de brasileiros e argentinos “de bem”, estão excluindo os imigrantes. Mas é uma categoria suficientemente flexível para que, eventualmente, possa haver um apelo aos imigrantes ou estrangeiros que se comportem de determinada maneira. Por exemplo: um imigrante que não pede ajuda do Estado, que é autônomo, paga os seus impostos e não comete nenhum tipo de crime poderia se enquadrar na categoria de “cidadão de bem”. Nos Estados Unidos, já estamos vendo um pouco disso. E na América Latina, um fenômeno relevante está acontecendo com o apelo da direita aos venezuelanos que residem em países como o Chile ou a Argentina, que eventualmente poderão participar nas eleições. Muitos deles, em grande parte devido ao desastre do qual escaparam, sentem uma profunda aversão a qualquer variante de esquerda e tendem a apoiar a direita sempre que podem. A direita, por sua vez, aproveita essa aproximação para invocar a crise venezuelana — uma questão sensível para a esquerda latino-americana — para seu benefício. Acredito que, à medida que a crise migratória se aprofunda no hemisfério, esses apelos se tornarão cada vez mais prevalentes.
LB: A sucessão da liderança na direita é provavelmente um tema para alguns cientistas políticos introspectivos em instituições públicas do meio-oeste americano, mas não ganhou espaço no debate público. A ausência de consideração sobre o futuro é meramente uma função do fato de as elites políticas de direita terem um horizonte temporal eterno para o seu projeto político (à semelhança do Reich milenar)?
JE: Não tenho a certeza.
Mesmo que as elites tenham esse tipo de horizonte em mente, as lideranças poderiam eventualmente ser substituídas se continuassem a servir aos seus interesses. Acho que a razão tem mais a ver com a falta de desafios ou de uma ameaça real à atual liderança da direita dentro do seu campo. Isso pode ser devido a uma lealdade popular construída ao longo do tempo, como vimos com Bolsonaro e Trump, por exemplo. Mas também à visão de mundo particular que conseguem mobilizar. Não há muito tempo, perder eleições era uma condição que desqualificava alguém de continuar a liderar um partido. Agora, se os eleitores não aceitam os resultados, perder eleições não só não desqualifica, como pode até fortalecer. O mesmo acontece com os processos judiciais. Antes, ser indiciado pelo sistema judicial manchava a reputação; agora, pode conferir o estatuto de mártir. Se os líderes de direita conseguem convencer os seus eleitores de que são vítimas de uma conspiração, torna-se mais difícil substituí-los.
LB: Por último, uma pergunta biográfica. Você é um jornalista-etnógrafo superlativo da direita contemporânea. Você poderia nos dar uma ideia do que te atraiu para este espaço e o que ganhou e perdeu com isso?
JE: Em primeiro lugar, devo rejeitar a sua generosa descrição por uma questão de bom gosto. Dito isso, o fato de os meus primeiros passos profissionais terem sido dados com a vitória de Trump em 2016 me levou a prestar atenção a esse mundo, que havia claramente se transformado e ao qual uma parte significativa da intelectualidade progressista não estava prestando atenção. Eu queria entender o que estava acontecendo lá e compreender como a experiência de Trump estava se espalhando para outros lugares ao redor do mundo. Tive um primeiro vislumbre quando comecei a cobrir o movimento de direita juvenil que estava surgindo na Argentina, anos antes do triunfo de Milei. Para mim, havia uma preocupação que também era geracional: muitas pessoas da minha idade e do meu meio estavam sendo seduzidas pelo movimento libertário e antifeminista. Então comecei a viajar e essas questões tornaram-se a chave para conhecer pessoas diferentes e expandir as minhas leituras. Acho que todos os jornalistas têm uma inclinação natural para a curiosidade e para conversar com pessoas que não são como nós. Somos atraídos pela vida dos outros e, às vezes, quanto mais distantes, melhor.
Suponho que também haja um senso de urgência, sabendo que muito do que estava acontecendo naquele mundo de direita era politicamente relevante, mas também dizia algo sobre o estado das coisas no mundo. Era uma espécie de testemunho em si mesmo. É em parte por isso que, para responder à sua pergunta, muito do que vejo me preocupa e assusta. Não romantizo isso. Mas estaria mentindo se não dissesse que aprendi muito ao longo dos anos e que gostei de todos os comícios, conferências e eventos desse tipo em que estive. Às vezes, acho que não consigo ficar muito tempo sem entrar num desses locais. É aí que percebo que talvez haja algo de errado comigo, ha. Mas quem está bem ultimamente?
Leonard Benardo é vice-presidente sênior da Open Society Foundations.
_________________
Nota de rodapé
1 – Nota de Juan após a tradução: “É importante observar que a entrevista foi realizada algumas semanas antes de Trump anunciar a imposição de uma tarifa de 50% sobre o Brasil. Esse movimento poderia ser capitalizado por Lula em detrimento do bolsonarismo, que corre o risco de ser associado a uma medida que é prejudicial ao país como um todo. Mas ainda é muito cedo para entender os efeitos e saber se haverá alguma mudança no cenário político-eleitoral. Lula provavelmente apresentará sua campanha como uma defesa da soberania brasileira contra os Estados Unidos. Mas suas chances de vitória permanecem, por enquanto e em minha opinião, reduzidas”.