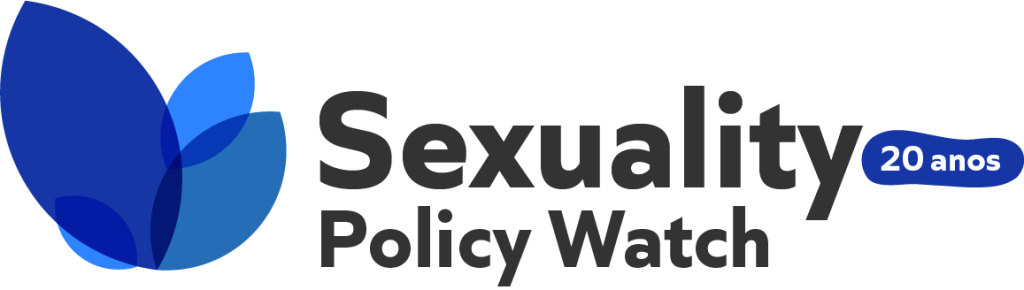por Berenice Bento (UnB)
Nada é mais estranho, inicialmente, para um/uma ativista dos direitos humanos da população LGBTTI (lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti, intersexo) em ver outros/as ativistas implicados/as na mesma causa, aderindo à campanha de boicote à Parada do Orgulho em Tel Aviv/Israel. Afinal, se supõe que ali, como em tantos outros lugares do mundo, esta população viva imersa numa luta constante para terem seus direitos respeitados. Então, por que artistas vinculados à luta dos direitos humanos tem recusado convites para participar do Festival Internacional de Cinema de Tel Aviv (TLVFest), evento vinculado à Parada do Orgulho?
Há outras perguntas: seria Israel, de fato, uma democracia para a população LGBTTI? Se a resposta for sim, fica mais sem sentido o chamado globalizado pelo boicote, uma vez que a Parada seria o momento de celebrar as conquistas e avançar nas lutas. Se a resposta for não, o boicote assumiria plenamente seu caráter no sense: é nosso dever apoiar a luta dos que sofrem opressão e a Parada do Orgulho, embora com seu caráter festivo, ainda se caracterizaria como um espaço no qual uma população desrespeitada teria visibilidade. Há, no entanto, uma ausência nessas duas hipóteses sobre a relação entre liberdade para população GLBTTI e democracia israelense que precisa ser nomeada para que esse ensaio possa continua: a Palestina.
Qual a relação entre a política do Estado de Israel para a população LGBTTI e a Palestina? Nada, absolutamente nada, do que se teorize sobre o Estado de Israel pode ser desvinculado da situação do povo palestino. E foi com surpresa que escutei um importante brasilianista gay criticar a incoerência de se boicotar a Parada do Orgulho de Tel Aviv sem mencionar a relação entre o Estado de Israel e suas políticas de morte dirigidas ao povo palestino. No seu silenciamento em relação à situação dos/as palestinos/as, ele usou um dos mais violentos instrumentos de guerra contra o povo palestino: fazer de conta que este povo não existe ou tentar desvincular “a sociedade israelense” da Nakba (catásfrofe) palestina. Israel está condenado à Palestina.
Organizei minhas ideias por pontos: primeiro vou tentar responder à questão se Israel é o que afirma ser: uma democracia. Depois discutirei a relação entre democracia e a população LGBTTI. Por fim, retomarei a discussão sobre o boicote a Israel a partir do debate sobre antissemitismo/antissionismo e a crescente adesão ao movimento globalizado que clama pelo boicote, desinvestimento e sanções (BDS) a Israel.
Israel é uma democracia?
Em agosto deste ano, o Knesset (parlamento israelense) aprovou uma lei que define Israel como Estado-nação do povo judeu[1]. Com esta nova legislação, mais de 20% da população israelense, formada por palestinos-israelenses terão status de cidadãos/cidadãs de segunda categoria. Esta lei, vale ressaltar, não inaugura o apartheid em relação aos palestinos que conseguiram sobreviver à limpeza étnica que teve início em 1948 por que permaneceram em suas cidades de origem[2]. A lei deu forma final e caráter legal-democrático (foi votado no parlamento) a um sistema de organização da vida no Estado de Israel em que ser palestino é a marca que define limites ao acesso aos direitos. Então, como é possível imaginar que um gay/lésbica/trans palestino-israelense seja respeitado em sua identidade sexual e de gênero se a sua identidade palestina o joga imediatamente para um lugar inferior nas hierarquias sociais? Outros traços institucionais nos permitem problematizar o mito de Israel como país democrático: não existe uma constituição, não há casamento civil e o reconhecimento do direito ao divórcio é um atributo de rabinos.
Mas há outra dimensão na questão da democracia. É possível que haja uma lei que assegure direitos a todos/as os/as cidadãos/cidadãs (o que não é o caso de Israel) e, no entanto, nas relações sociais mais difusas, estes direitos sejam constantemente ameaçados porque a lei não foi interiorizada como um marco orientador e regulador das condutas. Ou seja, aqui estamos no terreno do descompasso entre a norma jurídica e a vida social. Sabemos que o mundo das leis não anda de mãos dadas com o mundo da vida. E nesse vão se abre um espaço tenso de luta por reconhecimento. Num esforço de imaginação construamos uma Israel em que todos são iguais perante a lei (conforme dito antes Israel é hoje um Estado segregacionista). Isto significaria que os direitos LGBTTI seriam respeitados?
No livro Mirage gay à Tel-Aviv[3], Jean Stern afirma que Israel continua sendo um país profundamente homofóbico, no qual 47% da população considera que a homossexualidade é uma doença. Nas Paradas do Orgulho de Jerusalém nos anos de 2009 e 2015[4] aconteceram atentados cometidos por judeus contra manifestantes. Uma das manifestantes ferida, em 2015, morreu. Esses dados nos permitem compreender que Israel não é uma democracia legal plena e que a população LGBTTI não vive no paraíso, na Terra Prometida do Arco-Íris, pois no mundo da vida persiste uma aversão profunda à população LGBTTI. Desta forma, se poderia argumentar que essas são ótimas razões para incentivar a participação na Parada do Orgulho e esvaziar o chamado boicote, conforme apontou o brasilianista.
A Parada de Tel Aviv: evento oficial do Estado de Israel
Qual a importância que a Parada do Orgulho assume para o Estado de Israel? A Parada faz parte do calendário oficial. O Estado assume a tarefa de produzir uma verdade (país que respeita os direitos LGBTTI) e transformá-la (supostamente) em uma marca diferenciadora em relação aos países vizinhos que não respeitariam os mesmos direitos. Vimos que na vida real isto não acontece. A pregunta que fica é, portanto, por que o Estado investe tanto para vender globalmente — como um de seus principais produtos de exportação — a imagem de país democrático, habitado por pessoas que respeitam as múltiplas expressões de sexualidade e de gênero?
Todo e qualquer Estado precisa ter legitimidade para existir. Essa legitimidade requer um quantum de credibilidade de suas políticas são consistentes com determinados valores considerados fundamentais. O Estado de Israel construiu uma estratégia discursiva para convencer o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, de que ali os valores ocidente (o valor da liberdade/autonomia individual) são o tutano de suas políticas estatais. Nesse marco, a questão dos direitos LGBTTI passou a ocupar um lugar central na agenda oficial de propaganda israelense.
Em 2005 após a violenta repressão à segunda Intifada (movimento palestino de resistência) teve início a campanha “Brand Israel” (Marca Israel). A ministra de Assuntos Estrangeiros da época, Tzipi Livni (ex-agente do Serviço Secreto Israelense) foi uma das protagonistas no projeto que criou um modelo de cidade gay para ser vendida. Desde então, jornalistas ocidentais são convidados oficiais do Estado para visitar a cidade. O número de turistas na Parada Gay de Tel Aviv passou de 7 mil em 2006 para 35 mil em 2017. Em 2018 este número chegou a 250 mil pessoas. Ainda segundo Jean Stern, a Parada Gay é um truque político fabricado, organizado, e financiado pelo Estado. O centro gay de Tel Aviv é um Centro Municipal em que os salários são pagos pela prefeitura. Os publicitários que fazem as campanhas anuais da Parada também são pagos pela prefeitura de Tel Aviv. Tudo é absolutamente oficial.
Também em 2005 foi criada uma célula para controlar a comercialização da imagem do país nomeada Equipe de Gestão da Marca Israel que é gerenciada por Saatchi & Saatchi, importante agência internacional de negócios. A primeira medida tomada por Marca Israel foi substituir o velho slogan “The Jewish Heritage” (A Herança Judaica), considerado brega, por “Innovation for Life” (Inovação para a Vida) como traço que caracteriza o país. A Equipe de Gestão da Marca Israel também fortaleceu a capacidade operativa dos postos de turismo na Europa e nos Estados Unidos e multiplicou campanhas de publicidade em todo o mundo que projetam imagens de um país pacificado, divertido e criativo, apartado de qualquer ideia de Ocupação de Territórios ou colonização.
Numa rápida pesquisa no google com os descritivos “Parada gay+Tel Aviv” apareceram dezenas de imagens como esta:
Nas dezenas de fotos que examinei não há nada, nem uma única imagem que remeta à situação política de desrespeito em que, de fato, vivem os LGBTTI em Israel que convivem, conforme apontei, com níveis de profunda violência homofóbica. Tampouco há qualquer menção à situação do povo palestino, mesmo quando, exatamente no dia da Parada do Orgulho de 2018 em Tel Aviv, três adolescentes palestinos tenham sido assassinados em Gaza e mais de 500 civis feridos pelo Exército de Israel. A aparente espontaneidade dos corpos livres dançando que essas imagens projetam tem como objetivo esconder o caráter fabricado e controlado da mensagem que deve ser interiorizada por estrangeiros e visitantes: Israel é um país livre e feliz.
Além disso, as manifestações organizadas por grupos dos direitos humanos LGBTTI contrários à Ocupação e à colonização da Palestina são violentamente reprimidas[5] e não aparecem em nenhum veículo de comunicação. Enquanto as imagens de corpos festejando são consumidas, o que está em curso é, de fato, uma Guerra de Ocupação Midiática. Ou, nos termos do documentário The Occupation of the American Mind[6], um controle absoluto do fluxo de notícias que se referem a qualquer questão vinculada a Israel. A magia da hasbara (propaganda) faz desaparecer o uniforme do/a soldado/a que horas antes de ir para as ruas de Tel Aviv cantar e dançar em um trio elétrico, estava prendendo alguma criança palestina pelo suposto crime de jogar pedras nos soldados de Israel. Oculta os atos da soldada que entra sistematicamente nas casas de famílias palestinas para encarcerar algum de seus membros. Ali na Parada, a mesma soldada é uma lésbica feliz. Esta outra identidade que habita sua pele faz o milagre de transformá-la de opressora em figura exemplar da civilização ocidental.
Carl von Clausewitz afirmou que a guerra é a continuação da política. Michel Foucault inverteu este aforismo ao afirmar que a política é a guerra continuada por outros meios. E aqui, na cidade mais Ocidental do Oriente Médio, acontece outra inversão. A festa é uma forma continuada da guerra. A festa, neste contexto, não é um evento extracotidiano. Está, ao contrário, em linha de continuidade com a política global implementada pelo Estado para fazer desaparecer as necropolíticas (conceito de Achille Mbmbe) que governam o povo palestino. Não muito distante das ruas tomadas pelo festival, continuam a existir vários campos de refugiados habitados por palestinos que, certamente, tiveram suas casas expropriadas pelo Estado de Israel para construir as ruas que, no calor do verão do Mediterrâneo, recebe turistas que celebram a beleza da liberdade.
Agora a pergunta deve ser invertida: Como é possível que não se denuncie a estratégia do Estado de Israel em se apropriar de bandeiras de ativistas LGBTTI como instrumento de manutenção de poder colonial e da segregação? Como é possível desfrutar da cor azul turquesa do Mediterrâneo sem viver um dilema ético por saber que os/as palestinos não podem ascender aos mesmos espaços e mais ainda que, muito possivelmente, o esbelto corpo do gay israelense que desfila portava, horas antes, pesada munição que foi completamente descarregada na execução de um jovem palestino que o ameaçou com uma faça em uma das inúmeras barreiras militares (checkpoint) israelenses?
Estas considerações certamente não fazem nenhum sentido para aqueles/as que reduzem ou leem o mundo a partir de uma ótica exclusivamente identitária e elegem uma única dimensão de sua existência como sendo englobante e única referência de suas ações políticas. A luta identitária quando não está conectada a outras lutas por reconhecimento e por justiça social, facilmente pode ser cooptada pela lógica da dominação. Em tempos de “neoliberalismo progressista”, nos termos de Nancy Fraser[7], movimentos identitários podem alijar-se das lutas por transformação social e serem colonizadas pelo liberalismo.
Então, nesta perspectiva, pouco importa se a lésbica que está ali performatizando sua orientação sexual, seja uma soldada de um exército que tem sistematicamente cometido crimes contra a humanidade denunciados em Cortes Internacionais[8]. Sua participação na Parada, de fato, não interrompe suas atividades militares. Ao contrário, estar na Parada do Orgulho é uma tarefa cívica tão importante quanto controlar milimetricamente a vida do povo palestino. Não há qualquer disjunção entre as duas tarefas: festejar e matar. Na Parada ela da continuidade à guerra de eliminação de um povo. É este o sentido do pinkwashing[9],[10].
Em artigo publicado no New York Times, em 2011, Sarah Schulman cunhou este termo hoje amplamente citado. O que o Estado de Israel faz é pinkwashing. A palavra “cal” (tinta que utilizamos para pintar paredes) chama-se whitewashing. A expressão pinkwashing (lavagem rosa) significa, portanto, um conjunto de discursos que utiliza a suposta liberdade LGBTTI para limpar, esconder os crimes contra a humanidade cometidos pelo Estado de Israel. No artigo[11] A Documentary Guide to Pinkwashing, publicado em 2016, a mesma Sarah Schulman historiciza o pinkwashing e aponta seus desdobramentos.
Não é meu objetivo neste ensaio apresentar outras estratégias discursivas acionadas pelo Estado de Israel para sanear sua imagem de país que sistematicamente tem violado as leis e acordos internacionais. São muitos os “washings”, as faxinas da imagem, entre eles: o veganwashing[12], o art-washing[13] e também o redwashing[14], conceito que propus para definir os discursos de sionistas ditos de esquerda que insistem na posição de “escutar” os dois lados, como se a Palestina e Israel estivessem em situações simétricas. Estas “faxinas” discursivas têm como traço comum a reprodução e venda de Israel como um país cosmopolita, emancipatório e moralmente superior em relação aos países árabes porque respeita a autonomia dos indivíduos. Há algum tempo os “intelectuais orgânicos” do Estado de Israel descobriram que uma guerra não se ganha apenas com armas altamente sofisticadas. Depois de cada massacre contra o povo palestino é crucial apagar da memória do mundo essas cenas de horror. Essa é função das faxinas (“washing”) midiáticas. Frente ao pinkwashing do Estado de Israal, como devem atuar os ativistas LGBTTI vinculados a uma perspectiva interseccional de justiça e transformação social? Não resta dúvida: nossa tarefa e desafio é mobilizar-nos, globalmente, pelo boicote à Parada e a todas as atividades a ela vinculada.
Boicote e antissemitismo/antissionismo
Meus argumentos centrais até aqui foram três. Israel não é uma democracia nem em termos legais, nem em termos substantivos. A cultura de Israel não se caracteriza, fundamentalmente, pelo respeito às diferenças sexuais e de gênero. A Parada do Orgulho de Tel Aviv é um instrumento de guerra mobilizado pelo Estado de Israel. A quarta e última questão que quero abordar diz respeito à relação triangular entre o movimento de Boicote, Desinvestimentos e Sanções (BDS)/ antissionismo/ antissemitismo. Seria o BDS[15] uma forma contemporânea de antissemitismo? E o chamado do movimento pelo boicote à Parada do Orgulho esconderia, na verdade, o antissemitismo como sua verdadeira face?
Assistimos uma ofensiva, nunca antes vista, por parte do Estado de Israel no sentido de fazer coincidir antissemitismo e antissionismo como estratégia para atacar e debilitar o BDS. A lógica que informa a ofensiva é induzir à equivalência simples. Ou seja, os termos são intercambiáveis: quem faz uma crítica ao sionista é automaticamente qualificado como antissemita, principalmente se pronuncia a sigla BDS, considerada abjeta pelo Estado de Israel.
Em várias partes do mundo ativistas dos direitos humanos e defensores da autodeterminação do povo palestino têm sido ferozmente atacados. Na Inglaterra o líder do Partido Trabalhista, Corbyn Jeremy[16], e inúmeros outros membros que denunciam os crimes de Israel e que endossam o BDS vem sendo duramente perseguidos com a acusação de antissemitismo. No Brasil, o ex-deputado federal Milton Temer[17], reconhecido como uma das vozes mais comprometidas com a justiça social no Brasil e por seus vínculos com a solidariedade ao povo palestino, também tem sofrido difamações constantes por parte de sionistas.
Um dos livros de maior fôlego que se dedica a separar judaísmo e sionismo é Caminhos Divergentes: judaicidade e crítica do sionismo[18] da filósofa judia Judith Butler, ela mesma vítima permanente de difamações sobre seu suposto antissemitismo. Nas reflexões desenvolvidas no livro, Butler dirá que a tradição ética da judaicidade (termo que ela resgata de Hanna Arendt, outra filósofa judia), tem elementos estruturantes que não autorizam o sionismo a figurar como representante dos valores judaicos. Nas primeiras páginas do livro ela afirma:
“Se eu conseguir mostrar que existem recursos judaicos para a crítica da violência de Estado, da subjugação colonial das populações, da expulsão e da despossessão, terei conseguido mostrar que uma crítica judaica da violência de Estado israelense é, pelo menos possível – e talvez até eticamente obrigatória. Se eu mostrar, além disso, que alguns valores judaicos de coabitação com os não judeus são parte da própria substância ética da judaicidade diaspórica, será possível concluir que os compromissos com a igualdade social e justiça social têm sido parte fundamental das tradições judaicas seculares, socialistas e religiosas.” (p.11)
Mas muito antes desse livro, Butler tratou da complexa relação entre antissemitismo e antissionismo. Em Vida precária: el poder del duelo y la violência[19] já havia feito a seguinte elaboração:
“(…) se pensarmos que criticar a violência de Israel ou demandar táticas específicas que pressionem economicamente o Estado de Israel para que modifique sua política equivale a formar parte de um “antissemitismo”, de fato deixaremos de expressar nossa oposição por medo de ser identificado como parte de ação antissemita.” (p.136).
Entre outros valores da judaicidade, a filósofa destaca o princípio da coexistência. Os/as judeus/judias viveram e seguem vivendo em diversos países e tiveram que conviver ao longo dos séculos com diferenças culturais e lutar para manter seus próprios valores. Inevitavelmente, no entanto, foram afetados pelos encontros com outros valores, resultando daí a própria impossibilidade de pensar que o/a judeu/judia é um sujeito blindado, universal, não afetável pelos contextos culturais específicos que o cerca. Embora haja uma tradição cristalizada nos livros sagrados, elas entram em contato com os contextos locais. O resultado dessa experiência é uma releitura (ou tradução cultural) do “ser” judeu/judia. Os traços fortes da judaicidade estariam na capacidade de conviver, coabitar, traduzir culturalmente, características completamente estranhas à ideologia racista do sionismo. Onde a judaicidade diz “coabitação”, os sionistas implementam limpeza ética. Talvez o movimento globalizado de judeus/judias “Não em meu nome”[20] seja uma das expressões políticas mais contundentes conectadas com as formulações de Butler. São judeus/judias que não abrem mão de se identificarem com a tradição judaica, mas recusam qualquer identificação com o sionismo. Mais do que uma recusa passiva, passam a constituir ativismos que denunciam o sionismo como uma das expressões mais tacanhas do racismo contemporâneo. Tentam assim, salvar o judaísmo do sionismo.
Vozes difusas contra a segregação dos palestinos-israelenses e contra a colonização israelense na Palestina, antes dispersas em grupos espalhados pelo mundo, agora tem como ponto de unidade o movimento de solidariedade internacional ao povo palestino que clama por Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS) ao Estado de Israel. Este é o fantasma que atormenta a política do Brand Israel. E a resposta toma forma de um insulto de antissemitismo, como uma tentativa de controle dos discursos que circulam na esfera pública, mediante o terrorismo de acusação.
O BDS tem como inspiração à luta do povo da África do Sul contra o apartheid. É um chamado global (não-violento) da sociedade civil palestina que tem como princípio o “espírito da solidariedade internacional, da coerência moral e da resistência à injustiça e à opressão” (Manifesto do BDS). O objetivo é impor boicotes e implementar iniciativas de desinvestimento contra Israel semelhantes às aplicadas à África do Sul no tempo do apartheid. Estas medidas têm como objetivo obrigar Israel a cumprir a sua obrigação de reconhecer o direito inalienável do povo Palestino à autodeterminação e cumpra plenamente com os preceitos do Direito Internacional e com os princípios universais dos Direitos Humanos.
O BDS tornou-se o alvo principal do Estado de Israel. Em vários países o lobby sionista tenta aprovar leis que passam a definir os ativistas do BDS como antissemitas[21]. É neste contexto de guerra ao BDS, que o Estado de Israel tem aumentado os investimentos em um de seus principais eventos, a Parada do Orgulho. Por outro lado, observa-se a ofensiva violenta contra artistas que aderem ao BDS mediante perseguição sob a acusação de antissemitismo. Em Israel, o BDS está criminalizado.
O aeroporto de Tel Aviv, por exemplo, é palco de constantes deportações de ativistas dos direitos humanos que são identificados como pertencentes ao BDS. Em outro artigo apontei as estratégias que tive que adotar para não ser deportada quando cheguei ao aeroporto Ben Gurion[22], em Tel Aviv. As crescentes deportações, sintoma de um Estado paranoico[23], faz-me lembrar a máxima da Ditadura Militar no Brasil: “Ame-o ou deixe-o”. Em Israel, contudo, essa máxima foi invertida: “Ame-o ou não ouse entrar”.
Para concluir, retomo as reflexões de Haneen Maikey, ativista queer palestina: “não haverá paz duradoura ou justa até que os palestinos que vivem dentro de Israel, na Cisjordânia ocupada e em Gaza recebam total igualdade em sua pátria e os refugiados palestinos tenham garantido o seu direito legal de retornar.”[24] O que podemos fazer nós ativistas feministas, queer e LGBTI do Brasil e, mais amplamente, da América Latina, de modo a contribuir para que a paz e justiça social se efetivem na Palestina?
—
[1] Para uma discussão sobre a Lei Básica do Estado-nação israelense, ver aqui e aqui.
[2] Para uma discussão sobre a questão ver: Ilan Pappé, A limpeza Étnica da Palestina, Editora Sundermann, 2017.
[3] Jean Stern, Mirage gay à Tel-Aviv, Les éditions Libertalia, Paris, 2017.
[6] The occupation of the American Mind, produzido por The media education foundation, 2016. 84 min.
[10] Para uma aproximação com as atividades da Comissão BDS Pinkwashing, ver aqui.
[15] Ver a página BDS Brasil e BDS Internacional.
[18] Judith Butler, Caminhos Divergentes: judaicidade e crítica do sionismo, São Paulo: Boitempo editorial, 2017
[19] Judith Butler, Vida precária: el poder del duelo y la violência, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 2006.
[20] Acesse a página Jews Say No.