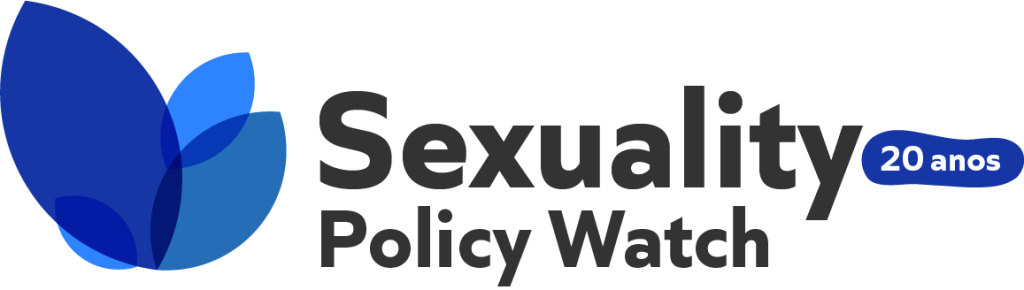Por Pedro Doria
Em junho de 1967, Ronald Reagan ocupava fazia seis meses o governo da Califórnia, seu primeiro cargo eletivo. O mês começara difícil, com um assassinato político que abalou os Estados Unidos em Los Angeles, a mais populosa cidade do estado. O senador nova-iorquino Bobby Kennedy, que havia participado de um debate sobre a Guerra do Vietnã com o governador apenas alguns dias antes, foi morto por um ativista palestino quando estava próximo de ser escolhido candidato democrata à presidência. Reagan tinha 56 anos, usava um topete e muita goma, seu rosto ainda não era marcado pelas rugas que carregaria por quase toda a presidência. Ele já era, porém, a voz de um novo conservadorismo americano, que traria valores religiosos de volta para a arena política após muitas décadas em que o laicismo havia imperado em Washington. E foi naquele mês, no dia 14, que Reagan sancionou o Ato do Aborto Terapêutico, tornando seu estado o terceiro no país a legalizar a prática. Em 1967, 518 abortos foram realizados legalmente na Califórnia. A partir de 68, a média anual saltou para a casa dos 100 mil. Reagan havia manifestado alguma hesitação a respeito da lei, mas sancionou ainda assim. A questão do aborto simplesmente não era uma que mobilizasse a direita americana.
A lei californiana era ampla — previa que o aborto seria legal em casos de estupro, incesto ou quando ameaçasse a saúde física ou mental da mulher. Este último caso, o da “saúde mental”, em essência permitia a médicos que autorizassem quaisquer pacientes aflitas com a possibilidade de terem filhos. Àquela altura, nos EUA, a tendência já estava estabelecida e outros estados seguiriam o exemplo da Califórnia até que, em janeiro de 1973, a Suprema Corte definiu que a Constituição do país protege a liberdade da mulher de escolher realizar um aborto sem que o Estado tenha o direito de interferir. A decisão no caso Roe vs Wade tornou o procedimento legal em todo o território americano.
Esta última semana, em campanha pela presidência da República aqui no Brasil, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva argumentou que o aborto precisa ser encarado como uma questão de saúde pública. “Todo mundo deveria ter direito e não ter vergonha”, afirmou num debate. “É uma coisa muito atrasada.” Embora intimamente tanto Fernando Henrique Cardoso quanto Dilma Rousseff fossem também a favor da descriminalização, o assunto é tabu nas campanhas eleitorais. Tanto que Lula voltou atrás o quanto deu. “Sou contra o aborto”, se apressou a dizer no dia seguinte. “Foi a única coisa que deixei de falar.” É tabu, principalmente, por conta de um eleitorado em particular: o evangélico, que vê no tema um dos que definem suas prioridades de ação política. Aquilo que motiva seu voto. E esta preocupação é importada dos EUA, onde o pastor batista Jerry Falwell criou, em 1979, um movimento batizado de ‘Maioria Moral’, que se tornou um dos mais influentes dentro do Partido Republicano. Um movimento que definiu uma agenda conservadora no âmbito do comportamento que ressoa ainda hoje. Manifestar-se em favor do aborto deixou de ser compatível com estar no Partido Republicano — é perda imediata de votos.
E, no entanto, Ronald Reagan, o pai do atual conservadorismo político, amigo pessoal de Jerry Falwell, em 1967 sancionou uma lei legalizando a prática. Não só o fez como sua assinatura não provocou protestos, tampouco atraiu a censura de pastores, ou gerou qualquer grande controvérsia.
O aborto simplesmente não fazia parte da pauta da direita. Ou mesmo dos evangélicos.
Como começou
Frank Schaeffer, um diretor de filmes B em Hollywood, ainda lembra da cena. “Esse não é um assunto do qual quero tratar”, ele ouviu Billy Graham dizer na virada dos anos 1970 para 80. Na época, junto com Falwell, Graham era um dos mais célebres pastores evangélicos americanos. Ainda nos anos 1950, foi um dos inventores do televangelismo, a pregação cristã pela TV. Foi figura frequente na Casa Branca nos governos Eisenhower, Nixon, Reagan, Bush pai, Clinton e Bush filho. Naquele dia do qual Schaeffer se recorda, Graham se recuperava de um procedimento cirúrgico na Mayo Clinic, um importante hospital no estado de Minnesota. O pai do cineasta, o também pastor Francis Schaeffer, se tratava de um câncer na mesma clínica e ambos passavam dias conversando, Graham e o velho Schaeffer. Eram amigos de longa data. “Não é um assunto do qual quero tratar”, explicou Graham. “Acho que prejudicaria minha habilidade de pregar o amor de Jesus. Não é um tema nosso, isso aí é coisa dos católicos.”
Mas Francis Schaeffer queria falar contra o aborto. Aos 67, o pastor, um teólogo presbiteriano, não era um reacionário. Nem mesmo conservador. Na verdade, dentro da comunidade evangélica, era visto como um declarado progressista, amigo de estrelas do rock dos anos 1960. Usava um denso cavanhaque sem bigodes e, apesar de americano, seu cosmopolitismo o levara a fundar na Suíça L’Abri, um misto de retiro espiritual e seminário, também uma comuna frequentada por hippies, onde em dias lentos de meditação perante os Alpes se discutia temas cristãos. Schaeffer era autor de inúmeros livros que popularizavam temas densos de teologia, best-sellers entre evangélicos americanos. Quando vivo — ele morreu em 1984, aos 72 —, era tão conhecido quanto os grandes televangelistas, Graham, Fallwel ou Jimmy Swaggart.
Com o objetivo de ampliar a popularidade dos temas que lhe interessavam, Schaeffer lançou em 1976 um grande documentário, uma série dividida em dez episódios, chamada How Should we then Live? (YouTube) — Como deveríamos viver? Ao longo dos filmes de meia hora cada ele reconta a história do Ocidente através da ciência, da filosofia, das artes e da religião. Não é uma obra de ataque à ciência ou à arte moderna, como boa parte do conservadorismo político viria a ser décadas à frente. Mas é uma defesa de que a ética cristã guie decisões. Os filmes se tornaram imensamente populares e moldaram a compreensão religiosa de toda uma geração de evangélicos, nos EUA. E foram, todos eles, dirigidos pelo jovem Frank, seu filho de 24 anos.
Animado com o sucesso, o teólogo lançou em 1979 uma segunda série, Whatever Happened to the Human Race? (YouTube) — O que aconteceu à raça humana? Cuidadosamente filmada com o mesmo requinte da primeira, foi um fracasso de público quando lançada. Custou, à família, um prejuízo de US$ 1,2 milhões. Em cinco episódios de uma hora, Schaeffer argumentava que a prática do aborto era equivalente a infanticídio e sua tolerância levaria à permissão legal para eutanásia. Uma clara violação da santidade da vida humana, em seu ponto de vista. Não era um pastor conservador, apenas assim compreendia a Bíblia.
Naquele dia, na Mayo Clinic, quando tentou convencer o conservador Billy Graham a abraçar a causa, Schaeffer tinha em mente o fracasso de sua nova série. Não era só o prejuízo financeiro que o afligia. Considerava que era necessário convencer os evangélicos a se mobilizarem contra o aborto. Graham não foi o primeiro líder religioso protestante a não querer se misturar com o assunto. “Isso é coisa dos católicos” é uma frase que ambos os Schaeffers, pai teólogo e filho diretor, ouviriam ainda muito.
O lobista certo
Na década de 1970, Paul Weyrich era um importante ativista do Partido Republicano, um estrategista político. Durante os anos 1960, nos governos de John Kennedy e Lyndon Johnson, uma série de leis e decisões judiciais haviam tornado a segregação racial ilegal em todo o território americano. Com as escolas públicas proibidas de recusar crianças negras, muitas comunidades evangélicas no Sul conservador criaram escolas particulares em que só brancos eram aceitos. Logo, porém, por conta da prática discriminatória essas escolas perderam a isenção de impostos que teriam como instituições religiosas.
A incapacidade de seguir sem pagar impostos mantendo a segregação racial fez com que pastores ultraconservadores sentissem a necessidade de criar um movimento de pressão política. Foi neste ambiente que Weyrich se impôs uma missão difícil — mobilizar politicamente os americanos evangélicos. Torná-los uma grande base capaz de se impor a parlamentares e, quem sabe até, a presidentes. O problema é que a razão original, segregação racial, era um tema cada vez menos popular. Além disso, se poderia ainda atrair evangélicos brancos do Sul, o racismo ostensivo afastava os também evangélicos de outras regiões do país. Weyrich precisava de um tema, uma questão que tocasse emocionalmente os frequentadores de igrejas e os motivassem a agir como grupo político unificado.
“Tentei fazer as pessoas se interessarem por vários assuntos”, ele lembraria. Utilizava técnicas de propaganda, tentava convencer pastores a falar sobre questões, explorou tudo que lhe ocorreu. Proibição da pornografia, por exemplo. Obrigação da prece nas escolas. Oposição à emenda constitucional que garante direitos iguais a homens e mulheres. Nenhuma das pautas colou.
Mas em 1980, quando Ronald Reagan e o então presidente Jimmy Carter se enfrentaram na disputa da Casa Branca, Weyrich descobriu um assunto que parecia dar liga nas pesquisas: uma emenda constitucional que proibisse o aborto no país. A série de Schaeffer havia sido um fracasso apenas um ano antes, mas de alguma forma tocara quem a assistiu. Quando Reagan assumiu o compromisso público de tentar fazer passar a emenda, de repente o tema foi parar no debate político. Os líderes evangélicos começaram a se mexer. E a série encontrou sucesso tardio.
O trabalho de mobilização em torno da proibição do aborto demoraria anos, ainda, até se consolidar na década de 1990. Hoje, é daqueles assuntos que divide quase que numa linha perfeita, nos Estados Unidos, direita de esquerda, republicados de democratas. Não foi espontâneo, uma compreensão teológica unânime ou mesmo indiscutível. Havia debate. Evangélicos, nos EUA, se tornaram contra aborto e fizeram disso ferramenta de mobilização política porque uma estratégia foi construída. Uma estratégia com o objetivo de criar uma base que facilitasse a eleição de parlamentares e presidentes conservadores nos costumes.
Funcionou.
Frank Schaeffer, hoje aos 69 anos, tem quase a idade que seu pai tinha quando morreu. Tendo dirigido as duas séries do velho teólogo, tornou-se um ativista pró-legalização do aborto. Circula o país contando a história do tempo em que evangélicos não se interessavam pelo assunto.
ABORTO EM PRIMEIRA PESSOA
Depoimentos a Giullia Chechia e Júlia Ribeiro
Quem nunca fez conhece quem já tenha feito. Velado, o aborto atravessa as histórias de família mais sombrias, os traumas das amigas próximas, a parte do passado que queremos esquecer. Por trás do véu do silêncio, existem nomes, histórias, porquês e mulheres. Sobretudo mulheres. Nos relatos abaixo, elas rompem o silêncio e retratam em primeira pessoa suas vivências com o aborto. Os nomes nos relatos – mudados para proteger as identidades delas – são Antônia, Lúcia, Maria e Luana. Mas poderiam ser Ana, Cristina, Joana e Vitória ou quaisquer outros, já que essas histórias ainda se repetem, cotidianamente, nas clínicas clandestinas, nos remédios abortivos comercializados no mercado ilegal, nas agulhas de tricô e em todos os outros métodos perigosos procurados por aquelas que querem descontinuar uma gravidez.
Antônia, 38 anos, publicitária: Enquanto conto minha história, estou sentada aqui na Nossa Senhora da Paz, ao lado de um grupo cheio de bebês. Eu estou bem fisicamente, acabei de sair da consulta da médica, está tudo normal. O colo do útero voltando, o procedimento deu certo. Quer dizer, está tudo bem fisicamente, mas tem o processo psicológico, né? Eu ainda estou vivendo o luto. O luto que envolve a tomada de decisão e as dúvidas que cercam a tomada de decisão. Não é algo simples, é muito, muito difícil. Em toda tomada de decisão você abre mão de alguma coisa. Então, acho que é assim: ‘Neste momento da sua vida, o que você quer ou não quer abrir mão?’. No meu caso, eu sou mãe de duas crianças, tenho 38 anos – quase 39, já passei pela experiência da maternidade, fiquei grávida e, nas minhas únicas experiências de gravidez, tive os filhos e foram experiências maravilhosas. Então, quando eu descobri essa nova gestação, senti um mix enorme de emoções. Desde a experiência de maternal de novo, com toda a parte da fantasia e nostalgia, às questões racionais, que me fizeram entender qual percurso queria seguir. Vale lembrar que eu só tive essa possibilidade de escolher por conta do acolhimento profissional que eu e meu companheiro tivemos. O acolhimento profissional de um obstetra que conversou com a gente, falou claramente sobre os riscos de interromper uma gravidez e os riscos de seguir adiante com a gestação em idade avançada. Tive acesso a uma pessoa que conversou abertamente. É um privilégio.
“Uma vez tomada a decisão, sobre a parte social, é extremamente cruel a falta de acesso. Precisei ir a São Paulo. Nós gastamos R$ 6 mil para fazer o procedimento em uma clínica segura, limpa, na qual eu não sentia que estava fazendo algo errado. Mas a gente só pode fazer isso porque temos dinheiro, né? Psicologicamente e socialmente falando, algo fundamental neste processo foi entender que a tomada de decisão começou muito antes da própria gravidez. Começou quando decidimos que não queríamos mais filhos e optamos por usar métodos para evitar a concepção. Mas todos os métodos têm um percentual de falha, né? O fato de o método ser falho não pode ser determinante. As pessoas dizem: ‘se você engravidou mesmo se protegendo, era pra ser assim’. Não, não era pra ser. Por aqui, esse processo tem sido uma provocação de vida muito forte porque sou extremamente apegada à maternidade. Decidi dedicar todo meu tempo para a maternidade durante quatro anos seguidos e até hoje eu divido — minha prioridade é a maternidade, quando consigo, eu trabalho. Tomar uma decisão nessa perspectiva é uma provocação, é um olhar de autonomia muito grande, um resgate enorme de quem sou como pessoa. A maternidade é parte da minha vida, nunca vai deixar de ser. Mas estou olhando para as várias outras partes que me compõem enquanto ser.”
Lúcia, 63 anos, aposentada: “Desde muito cedo comecei a ser abusada por meu pai e tio. Todos morávamos juntos. Eu, minha avó, meu pai, tio e tia. Minha mãe me abandonou, quem me criava era meu pai e minha avó. Os traumas que sofri foram tão grandes que não me lembro da minha infância. Nossa mente coloca os traumas em caixas bem fundas no inconsciente. Aos 15 anos, colocava trancas na porta do quarto para evitar os abusos. Minhas memórias ficam mais claras a partir dos 17 anos. Não sei se os abusos influenciaram, mas minha vida sexual se iniciou tarde, aos 18 anos. Logo em seguida, precisei abortar. Assim aconteceu, um atrás do outro. No total foram oito ou nove abortos. Não recebi nenhuma orientação ou educação sexual das pessoas que me criaram, na verdade, recebi agressões. Não sei se isso influenciou minha vida sexual. É uma culpa muito grande, a gente passa a vida toda se achando responsável pelas atitudes dos homens da casa. O desejo de ser mãe sempre foi muito intenso, mas nunca se concretizava. Todo o movimento do abuso gerou em mim falta de autoestima, insegurança e me fez escolher parceiros ruins para criar filhos. Dei muita bobeira. Religiosamente, não tenho nada contra o aborto. Se acontece uma gravidez não esperada, indesejada por qualquer que seja o motivo, e você não se sente preparada para ter o filho naquele momento, não há problema em descontinuar uma gravidez. Em muitas ocasiões, é necessário.”
Maria, 76 anos, aposentada: “Quando eu tinha 8 anos, entrei numa clínica com a minha mãe. Hoje sou idosa e nunca me esqueço daquele dia. Ela nasceu em 1918, casou-se cedo. Meu pai a traía. Minha mãe chegou a pegar uma doença sexual grave do meu pai, que nunca a deixava em paz. Antigamente era assim. A mulher não podia negar sexo para o marido. Assim, ela acabou fazendo 28 abortos. Naquele dia, esperei na recepção da clínica enquanto outro aborto acontecia lá dentro. Mais tarde, soube que ela também não queria ter me tido. Tentou se jogar da escada para perder naturalmente, mas não deu certo. A culpa a acompanhou até o fim. Na velhice, minha mãe ficou louca. Escrevia nas paredes de casa os nomes que colocaria naquelas crianças abortadas. A culpa a acompanhou até o fim – por mais que, desde aquela época, nós soubéssemos que muitas mulheres próximas também abortavam às escondidas.”
Luana, 20 anos, manicure: “Eu tinha 14 anos. Trabalhava em buffet infantil, ganhava R$ 46 por festa e não estava nem no Ensino Médio. Moro em Paraisópolis. Acabei engravidando do meu namorado e não tinha condição nenhuma de criar aquela criança. Eu amo crianças, trabalhava com recreação, passava o dia estirada no chão com as crianças dos outros, mas decidi tirar. Naquele mês, sangrei todos os dias, engordei muito com o inchaço e precisei ir ao posto de saúde muitas e muitas vezes. Hoje tenho 20 anos e sou mãe de um rapazinho de dois. Trabalhando como manicure, estou construindo nossa casa em cima da padaria onde meu namorado trabalha. Não interrompi a gravidez do meu filho porque minha irmã havia acabado de fazer um aborto, quase morreu. Minha mãe me proibiu. Besteira, não morri evitando este segundo aborto, mas quase morri no parto. Pari num hospital público, me deixaram quase dois dias em trabalho de parto – mesmo sabendo que não seria possível, na minha situação, tê-lo de forma natural. Sou asmática e estava há dois dias em trabalho de parto com várias outras mulheres gritando em macas de ferro. Pelo menos consegui terminar o Ensino Médio. Desta última vez, quando engravidei, comia dois salgados de R$ 1 antes de sair da favela, trabalhava numa agência de turismo durante o dia e, depois do expediente, atravessava a cidade para fazer faculdade à noite. Aos finais de semana, continuava nos buffets infantis. Sobre a faculdade, eu amava. Fui a primeira da minha família a entrar no ensino superior. Cursei alguns semestres de turismo, mas precisei parar. Quem sabe um dia eu volto. Agora tenho que cuidar do meu pequeno.”
Texto originalmente publicado em Canal Meio em 09 de abril de 2022. Para acessar o post original clique aqui.