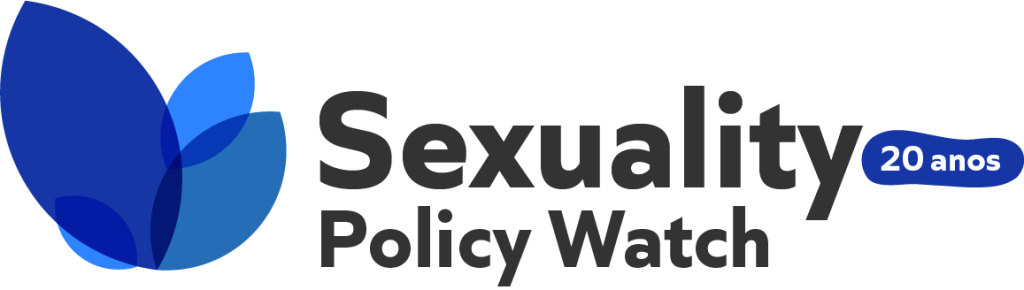por Richard Parker*
Em meio à pandemia da COVID-19, a história do surgimento e das repostas à epidemia do HIV/AIDS oferece lições para pensar os desafios e riscos atuais. A primeira é ressaltar que a testagem – objeto de mobilização e demanda da sociedade civil — é muito mais do que uma simples técnica biomédica. Sempre há dimensões políticas que envolvem riscos quanto ao uso adequado ou inadequado. Não à toa, a perspectiva dos direitos humanos sempre foi e deve ser prioridade para garantir e promover a dignidade das pessoas.

Durante as primeiras décadas da AIDS, quando não existia tratamento eficaz, a testagem de HIV foi amplamente usada para oprimir quem era diagnosticado com o vírus. Demissão, confinamento e desalojamento eram desdobramentos corriqueiros, sem qualquer benefício para as pessoas que testavam positivas. Por isto, ativistas e organizações como a ABIA historicamente lutaram contra os abusos da testagem e defenderam a centralidade dos direitos humanos como princípio necessário para guiar políticas e práticas relacionadas à testagem.
Dado estes riscos, no início da epidemia de HIV/AIDS, foi necessário um esforço enorme dentro das comunidades mais afetadas para construir uma cultura solidária em torno da questão da testagem. Era fundamental sensibilizar as pessoas sobre a importância do teste para saber a sorologia e, sendo o resultado negativo ou positivo, conscientizá-las sobre a importância de adotar práticas para continuar negativo ou para proteger os seus parceiros em caso de infecção. Esta ética solidária (e cidadã) foi especialmente importante porque permitiu avançar além de uma perspectiva exclusivamente egocêntrica – “vou me proteger!” – para construir a noção de práticas solidárias – “vou proteger os meus pares, a minha comunidade!”.
É neste sentido que o conceito da prática de sexo mais seguro (ou práticas de redução de danos) tinha que ser construído como uma “prática comunitária”. Retomo aqui um ensaio clássico de Simon Watney, Safer Sex as Community Practice, que até hoje é uma das coisas mais perspicazes e inspiradoras escritas sobre a resposta da comunidade gay à AIDS no começo da epidemia: ele falava de sexo seguro e não de testagem, mas o princípio é o mesmo, isto é, a adoção de uma prática não simplesmente para proteger você, mas para proteger os outros, a coletividade.
A partir de 1996, com a oferta de medicamentos antirretrovirais, a história mudou aos poucos e, mesmo assim, continuando restrita aos contextos de garantia de acesso ao medicamento como direito de cidadania. Até hoje, depois de 40 anos do surgimento da AIDS, quase a metade das pessoas HIV-positivas no mundo não têm este direito, apesar da política de “testar e tratar” ser promovida pela OMS e UNAIDS como uma política para todos. Ainda estamos longe do acesso pleno à testagem, o que representa um enorme problema para o enfrentamento da epidemia porque afasta milhões de pessoas de um direito humano, rompendo essa lógica de coletividade e comunidade. Nenhuma epidemia ou doença pode ser combatida digna e plenamente em meio à exclusão.
A história da AIDS nos mostra que a testagem pode ser uma ferramenta positiva poderosa, mas também pode ser instrumentalizada para oprimir e discriminar. Em tempos de governos neofascistas ao redor do mundo, os riscos de abuso e violação dos direitos humanos por estes governos são imensos. Aliás, o próprio presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tem difundido a ideia de confinamento de pessoas idosas e com doenças preexistentes, contingente populacional que, excluído da suposta ‘maioria saudável’, ameaçaria a população em tese economicamente ativa e produtiva. Também nos EUA, o governo Trump já está colocando pessoas presas pelo Departamento de Segurança Interna em quarentena forçada por estarem ‘doentes’ com COVID-19. No campo do biopoder, os riscos são múltiplos. A resposta ao COVID-19 não pode reeditar práticas danosas aos direitos humanos, operando a partir da culpabilização e do estigma, sob o risco de idosos e pessoas hipertensas ou diabéticas – também mais vulneráveis ao novo coronavírus – tornarem-se a versão hodierna do que os gays foram durante os primórdios da epidemia do HIV/AIDS.
Para tanto, não se deve também limitar o enfrentamento ao novo coronavírus à testagem, nem operar segundo uma lógica de separação ou oposição entre prevenção e tratamento. Pelo contrário, são aspectos que devem ser valorizados e projetados em conjunto, refutando qualquer lacuna entre essas duas dimensões e investindo na relação articulada e integral (no sentido da integralidade do próprio SUS). Prevenção e tratamento são batalhas históricas, que se complementam. Uma das grandes aprendizagens da AIDS é o reconhecimento dessa ligação fundamental. Igualmente, cabe sublinhar que nenhum problema de saúde pode ser encarado com tendências estigmatizantes e discriminatórias que dividam o mundo entre “nós” e “eles”, “saudáveis” e “doentes”. A resposta ao HIV/AIDS nos ensinou que linguagens que segregam e deixam pessoas de fora são incompatíveis com os princípios de solidariedade e prejudicam o acesso à saúde.
Tais princípios, infelizmente, não parecem fazer parte do rol de valores do presidente Bolsonaro. No dia 15 de março, violando o isolamento a que fora recomendado por ainda estar em fase de testes para saber se tinha o novo coronavírus, o presidente interagiu fisicamente e participou de manifestação de apoiadores em Brasília. Um ato duplamente temerário: primeiro porque descumpriu recomendação médica referendada pela comunidade científica, expondo terceiros ao risco de infecção, e segundo por ter afirmado no dia seguinte, quando questionado sobre o ato, que “se eu me contaminei, isso é responsabilidade minha e ninguém tem nada a ver com isso”. Uma postura completamente equivocada, demonstrando falta de consciência e empatia com seus semelhantes. Quando atitudes como esta, tomadas de forma egocêntrica e autocentrada, partem do chefe de Estado, temos um enorme desserviço aos esforços de enfrentamento à COVID-19 na medida em que cria divisões onde deveriam ser erguidas pontes de diálogo e solidariedade. Ao demonstrar preocupar-se apenas consigo mesmo, ele alimenta a lógica de descaso e desprezo com o outro. Se a história da AIDS nos ensinou algo, é que este tipo de abordagem, ainda que acompanhado de sofisticados recursos biomédicos e modernas técnicas de testagem e tratamento, não leva senão a um fracasso retumbante. É preciso olhar para o entorno, para capturar as complexidades sociais e econômicas inerentes a qualquer sociedade.
Prevenir, testar, tratar e acolher, levando-se em conta a realidade social e econômica, devem ser elementos cruciais para evitarmos erros conhecidos, especialmente nesse período inicial da pandemia da COVID-19, cujos temores e medos inevitáveis podem levar a decisões afobadas, desinformadas e danosas.
A participação da sociedade civil, mais uma vez, é crucial para ajudar a combater a COVID-19, dialogando com gestores e autoridades, cobrando medidas eficazes, atuando para fortalecer o SUS. Assim, temos também uma oportunidade para reeditar acertos e contribuir para uma resposta eficiente, baseada nos direitos humanos e na solidariedade, princípios mais do que nunca necessários em um cenário de um governo de extrema-direita que não apenas os despreza como faz questão de reforçar estigmas muito vulneráveis ao ímpeto do biopoder.
* diretor-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA) e co-coordenador do SPW