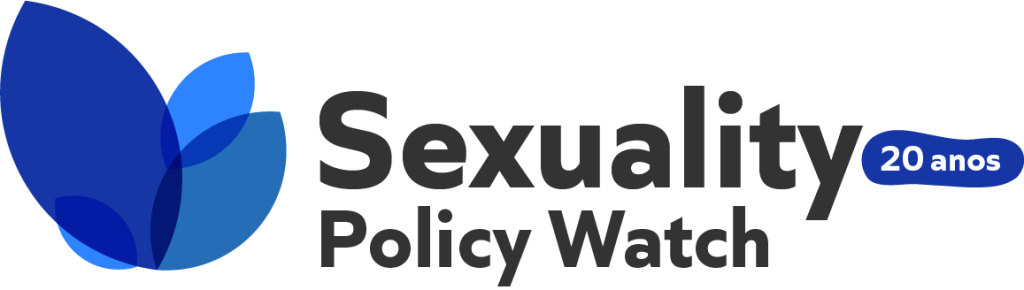Originalmente publicado pelo CLAM em: http://clam.org.br/destaque/conteudo.asp?cod=12393
por Washington Castilhos
A despeito de todo o julgamento moral que desencadeou nas redes sociais assim que veio a público por meio da divulgação de um vídeo no Twitter, o caso de estupro coletivo da jovem de 16 anos em uma comunidade do Rio de Janeiro também evidenciou o lugar da internet como mediador de opiniões e sensibilidades em relação ao ideário feminista. A notícia impactante criou as condições para que debates, antes restritos a páginas de alcance segmentado, ganhassem mais visibilidade. Campanhas no Facebook entraram em cena politizando o evento, em contraposição à reação conservadora que o caso também despertou. Diversos blogs publicaram relatos de leitoras contando histórias reais de abuso na família, no trabalho e em outros locais.
Iniciativas de romper o silêncio não são novas – relatos de assédios já haviam tomado conta do Twitter através da campanha #meuprimeiroassedio, entre outras –, mas se tornaram mais frequentes a partir do caso que mobilizou o país nas últimas semanas. São relatos que desconstroem tratamentos e significados comumente atribuídos ao estupro, usualmente relacionado à rua. No episódio do Rio de Janeiro, um grande número de comentários que circularam na rede no primeiro momento buscavam desqualificar e culpabilizar a vítima, impulsionados tanto pelo tratamento dado pelo delegado inicialmente encarregado do caso (que, baseado em um exame de corpo de delito feito quatro dias após o ocorrido, afirmou não haver sinais de violência sexual), como pelo contexto, circunstância do crime e características da vítima (favela carioca, adolescente pobre frequentadora de baile funk e mãe de uma criança de 3 anos).
Porém, relatos como os citados – que, coincidentemente, se parecem com as histórias pessoais contadas por mulheres que participaram de Atos contra a cultura do estupro, convocados via internet e realizados em diversas cidades brasileiras no dia 1 de junho – mostram vítimas de perfis diferentes do da jovem violentada na comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro. São mulheres que não sofreram a agressão após um baile funk. “Quando os homens saem à noite com medo de levarem seu celular, nós mulheres saímos com medo de termos nossos corpos violados.”, escreveu uma internauta logo após o vídeo ter viralizado. Distante da associação corrente, restritiva e problemática “estupro-classe social-favela-negritude”, a realidade é que mulheres podem ser violentadas dentro de relacionamentos afetivos ou em uma ida a um baile funk, independente de sua conduta. Ou seja, a experiência da moça de Jacarepaguá (bairro na região Oeste do Rio de janeiro) não foi exceção.
Por sua vez, o agressor também é muito distante da ideia de “monstro”, termo preferencialmente usado por boa parte dos internautas que se escandalizaram com o caso para se referirem aos criminosos em seus comentários na rede. Em geral, mulheres que já sofreram violência sexual não foram violentadas por desconhecidos. O agressor pode ser familiar, namorado ou amigo, com quem a vitima se relaciona afetivamente. Colocá-lo como monstro reifica a ideia de se tratar de uma exceção.
“A abordagem do estupro como um ato monstruoso e pelo lado da conduta da vítima fortalece uma ideia de excepcionalidade, tanto com relação à vitima quanto em relação ao agressor. O conceito de cultura do estupro é uma ferramenta política importante porque fala da não excepcionalidade e dos mecanismos sociais que faz com que a situação de vulnerabilidade permaneça”, avalia a antropóloga Regina Facchini, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero – PAGU/Unicamp.
“Violência/agressão sexual/estupro são temas políticos, que fazem parte de uma produção social/cultural cotidiana, dai a noção de cultura do estupro. Um comentário bastante preocupante que vi foi “sou solidária com todas as mulheres que sofreram e sofrem abusos, mas não gasto 1% da minha energia defendendo bandidos (…) garota que posta que adora dar para bandidos e gosta de orgia não me representa”. O estupro nesse tipo de posicionamento não é rechaçado como violência que fere a gramática de direitos humanos, é apenas adequado a uma gramática moral, reforçando a ideia da existência de mulheres estupráveis – “aquelas que gostam de bandidos”, “as que gostam de orgias”, ou seja, a ideia de mulher estuprável fica intocada, produzindo um sujeito moral e hierarquizando feminilidades ligadas a condutas, corpos, classe, cor da pele, orientação sexual”, afirma a cientista social Carolina Branco de Castro Ferreira, também pesquisadora do PAGU/Unicamp.
Neste sentido, ambas as pesquisadoras chamam a atenção para como a internet tem sido um campo importante de atuação e instância pedagógica de construção de sensibilidades em relação a ideários feministas, através do ativismo virtual (do chamado “ciberfeminismo” ou militância feminista virtual) e do engajamento de mulheres mais jovens.
“A gramática política dos feminismos incide em ansiedades e medos difusos, transformando-os em indignação e tecendo uma trama moral, cognitiva e emocional inspiradora da ação política, bastante útil como forma de comunicação social entre públicos múltiplos. Mas que, no caso do qual estamos tratando, produz uma série de ambivalências como indignação seletiva e a (re)produção de sujeitos morais no âmbito de políticas sexuais”, observa Carolina Branco.
O contexto de fortes expressões conservadoras no Brasil – evidenciadas em muitas das reações ao caso de estupro coletivo – está, sem dúvida, vinculado ao cenário político do país, de grandes ameaças de retrocessos aos direitos humanos, especialmente após o afastamento da presidente Dilma Rousseff e da instalação do governo provisório de Michel Temer, que, ao nomear apenas homens brancos para compor seu ministério e rebaixar as Secretarias de Políticas para as Mulheres, de Direitos Humanos e da Igualdade Racial (que nos governos de Lula e Dilma Rousseff gozavam de status de ministérios) como apêndices do Ministério da Justiça, mostrou evidências de que para o “novo governo” (rigorosamente, governo interino) as questões racial e de gênero não são prioridades.
Como Secretária de Políticas para as Mulheres, o presidente em exercício nomeou uma mulher contrária às pautas feministas, que inicialmente se declarou oposta, inclusive, ao direito ao aborto em casos de estupro, já previsto em lei. E enquanto parte da sociedade pauta nas redes sociais a questão do abuso sexual e da cultura do estupro, tramita no Congresso Nacional brasileiro francamente conservador várias proposições que buscam retroceder na matéria. Já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, sob patrocínio da bancada religiosa, o Projeto de Lei 5069/2013 prevê que uma vítima de abuso sexual ou estupro terá que realizar um boletim de ocorrência (B.O.) e fazer um exame de corpo de delito para, só então, ser atendida em uma unidade de saúde. Sabe-se, no entanto, da existência de uma série de mecanismos que impedem a vitima de sentir-se segura de denunciar, como a operação inadequada do Direito (a visão machista do delegado posteriormente afastado do caso da jovem estuprada é um caso exemplar disto) e a dificuldade de se punir o agressor.
O texto do PL também modifica o tipo de atendimento que a vítima receberá no hospital, vetando, por exemplo, que ela receba orientações sobre aborto legal – no país, somente em casos de estupro, de risco de morte para a mãe ou para fetos anencéfalos (em alguns casos, para outras malformações fetais que trazem inviabilidade à vida extra-uterina, mas que dependem de decisões judiciais favoráveis). Além disso, de acordo com o projeto de lei, ela só poderá receber medicamentos que não forem abortivos, embora o texto não defina o que é abortivo. Assim, se aprovada (o projeto ainda terá de ser votado pelo plenário da Câmara), a lei servirá para uma posterior proibição da pílula do dia seguinte (hoje vendida legalmente em qualquer farmácia), caso um médico julgue a pílula como abortiva.
Além do PL 5069, esperam para entrar em votação o PL 7443/2006, que determina a inclusão do aborto entre os crimes considerados hediondos; o PL 1545/2011, que impõe ao médico que realizar o aborto, fora das hipóteses previstas em lei, uma pena de prisão que vai de seis a 20 anos; e a Proposta de Emenda à Constituição – PEC 164/2012, que determina que a inviolabilidade do direito à vida é garantia de todos “desde a concepção”, incluindo, portanto, o feto.
Aliado a essas proposições, há ainda a tentativa de se retirar as temáticas de gênero e da diversidade dos planos de educação, sufocando a possibilidade de uma prática de ensino e de socialização mais igualitárias para meninos e meninas nas escolas e de políticas preventivas que passam pela Educação.
As posições explicitamente ultra-conservadoras e discriminatórias de alguns deputados e senadores ganham apoio na sociedade e, com isso, opiniões claramente racistas, sexistas e homofóbicas cada vez mais se multiplicam na rede, já que as pessoas se sentem à vontade para expressá-las. Cabe considerar que tais forças já estivam na sociedade, embora represadas. Como percebe o filósofo Mauro Iasi, da UFRJ, o conservadorismo sempre esteve por aqui, forte e persistente, portanto denominações como “onda conservadora” ou “nova direita” podem ser enganosas.
O Brasil teve no ano passado ao menos 47.646 estupros, mostram os dados oficiais das secretarias estaduais da Segurança coletados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número equivale a um caso a cada 11 minutos, em média. Os números incluem também os estupros de vulnerável, crime cometido contra menores de 14 anos. Como a subnotificação é extremamente elevada no país, o Fórum acredita que possam ter ocorrido entre 136 mil e 476 mil casos de estupro no Brasil no ano passado.
Na mesma semana em que a jovem foi violentada no Rio, outro caso de estupro coletivo ocorria no Piauí e, até o fechamento deste texto, outro era relatado no mesmo estado. Todos tendo como vítimas adolescentes menores de idade. Por conta do crime de Jacarepaguá, que tomou maior repercussão midiática, o presidente em exercício Michel Temer apressou-se em fazer passar no Senado, em regime de urgência, um projeto que aumenta a pena em até 30 anos para quem comete o crime. E o governador (também em exercício) do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, chegou até a falar em pena de morte.
“No Brasil há sempre a tradição do recurso à lei penal punitiva, como se fosse resolver todos os problemas, sem levar em conta os problemas sociais que estão em jogo. Não adianta aumentar a pena ou pensar em soluções simplistas punitivas quando a questão de fundo é a Educação”, avalia Regina Facchini.
O recurso à lei penal também foi acionado pelo governo indiano após o estupro coletivo de uma paramédica em um ônibus de Nova Deli em 2013 (leia artigo publicado aqui). Na época, no Brasil operava o suposto de quecrimes como esse seriam caraterísticos de outras culturas e não aconteceriam por aqui por serem distantes da nossa realidade. Entretanto, há muitos traços em comum. A frase cunhada por movimentos feministas mobilizados em campanha contra a banalização das múltiplas formas de violência sexual contra mulheres, “cultura do estupro”, dá conta dessas analogias.
Violência sexual nas universidades. Informe de situação
por Thaisa Alves
Os casos de estupro acontecidos na rua são os que ocupam o imaginário das pessoas, mas há os que acontecem dentro de casa e outros que ocorrem no âmbito das instituições. Recentes casos de estupro na Universidade de São Paulo (USP), a principal do país, amparados na falta de uma ação efetiva de punição, expuseram o problema da omissão e o despreparo das universidades em lidar com a questão dentro de seus muros.
No dia 23 de maio, diversos coletivos feministas de estudantes, juntamente com a União Brasileira de Mulheres, órgãos responsáveis pela segurança pública e instâncias representativas de universidades públicas do Rio de Janeiro se reuniram na Assembleia Legislativa do Estado (ALERJ), à convite da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, para uma audiência que teve como tema “Sociedade Fluminense contra os crimes de violência e estupro de mulheres nas universidades públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro”.
Uma página, criada em 2013 por uma aluna da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, relata 615 casos de violência dentro da unidade, de 1970 a 2016. Alguns ainda não publicados, porque muitas mulheres convivem com o medo. Na Audiência, a dona da página relatou ser o número 616, e que decidiu criar esse meio de expor os casos para dar voz às mulheres, diante da omissão da reitoria. Por ser a criadora desse portal, ela afirmou sofrer intermináveis retaliações e que ouviu ser um caso isolado ao pedir ajuda da direção. A reitoria explica que a localização periférica da universidade e o quantitativo reduzido de vigilantes intensifica as ações de violência.
A representante da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) relatou desde casos de estupro onde o agressor foi solto na mesma semana a violências nos alojamentos, e festas de alto teor machista organizadas na intenção de assediar as estudantes. Segundo ela, os alojamentos são habitados por pessoas que não possuem vínculo algum com a universidade.
As representantes da Pontifícia Universidade Católica (PUC) afirmaram que lá os relatos vão desde a perseguição aos movimentos feministas por parte dos membros do DCE (Diretório Central dos Estudantes) ao cuidado com as palavras: caso façam uma mesa sobre aborto, ela deve ser chamada de “saúde da mulher”, por conta da ligação que a faculdade possui com a Igreja Católica.
Segundo as representantes da Universidade Estadual da Zona Oeste (UEZO), a situação na unidade é ainda mais complicada, porque a segurança pública na área é subordinada à milícia, uma das responsáveis pelos casos de estupro. As normalistas sofrem assédio constante e, mesmo quando são estupradas, não denunciam por medo de morrer.
Segundo relatos da representante da Universidade Federal Fluminense (UFF), no campus da universidade na cidade de Rio das Ostras os estupros acontecem à luz do dia, há casos de trancamento de matrícula após situação de assédio e tentativa em vão de expulsão de um professor machista. Uma mulher chegou a ser sequestrada e abusada por quatro homens que a jogaram em um rio ao pensarem que estava morta.
A diretora da UNE, Barbara Cardoso, pontuou que “é necessário que haja o reconhecimento por parte das universidades de que há machismo nesses espaços e que se reconheça também as diversas formas de violência, bem como a opressão psicológica por parte dos professores”.
Presente à Audiência, a coordenadora da União Brasileira de Mulheres, Luciana Targino, explicou que colocar a Polícia Militar (PM) dentro das universidades aumentaria o número de casos, já que a maioria dos policiais são homens e com histórico forte de machismo na corporação.
O fato dessas informações serem compartilhadas e essas situações de flagrante agressão e descaso institucional serem debatidas constitui um passo à frente, dado por coletivos de mulheres universitárias.
Publicada em: 16/06/2016