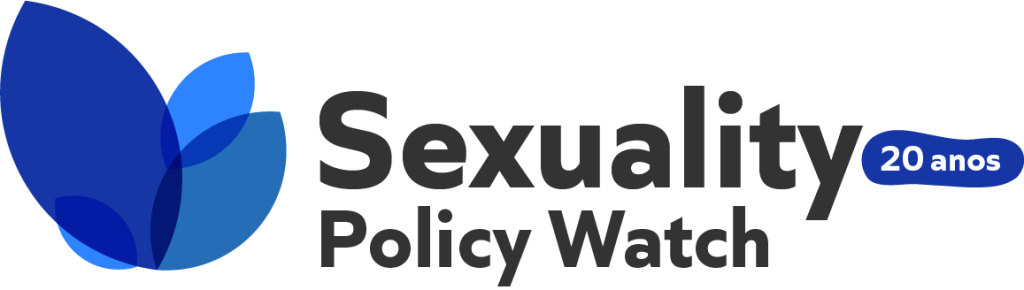Laura Molinari Alonso e Jimena de Garay Hernández – feministas autônomas
Os Jogos Olímpicos de 2016 têm sido propagandeados como os Jogos das mulheres. De fato, tivemos o maior percentual de competidoras na história e um excelente desempenho das atletas. Mesmo assim, a sexualidade das mulheres continuou sendo recorrente na cobertura olímpica. E, lamentavelmente, isso não aconteceu a partir de um olhar que valoriza a autonomia dos nossos corpos e prazeres, mas, como sempre, na lógica que obedece às demandas do consumo masculino.
Como de costume, a mídia focou os corpos femininos, como quando deu enorme destaque para fotos da bunda da tenista afro-norte-americana Venus Williams. Vale lembrar, coisa quase nunca dita, que os uniformes das atletas femininas são muito menores que os dos homens – inclusive nos mesmos esportes, como no vôlei e na ginástica. Esse fato pouco debatido suscita uma reflexão interessante: houve um enorme debate sobre os corpos cobertos da jogadoras egípcias de vôlei praia, Doaa Elgobashy e Nada Meawad, interpretados como imposição cultural e patriarcal da religião islâmica, mas ninguém questiona se as roupas curtas e justas das nossa atletas são, de fato, uma ‘escolha’ ou também um efeito de normas culturais.
Outro ângulo complicado dessa cena paradoxal foi o escândalo em torno da relação sexual de Ingrid de Oliveira, atleta de salto ornamental, na Vila Olímpica, revelada aos quatro ventos e sem nenhum respeito pela sua privacidade. A mídia internacional, em particular, fez uma abordagem moralista do ‘caso’. O jornal português “A Bola”, por exemplo, chegou a publicar a seguinte manchete: “Ingrid: maratona de sexo expulsou-a dos Jogos Olímpicos”. Esse tratamento nos leva a perguntar onde estaria, de fato, a tal liberação sexual propagada pelos uniformes justos e curtos e pelas fotos sensacionalistas.
Outro episódio lamentável e machista que se destacou na cobertura midiática das competições femininas foi o comentário do jornalista Dan Hicks, da TV NBC, a respeito da vitória da nadadora húngara Katinka Hosszu. Após ter levado o ouro e batido o recorde mundial nos 400m, ele afirmou, ao vivo, que todo crédito da vitória pertencia ao marido e treinador da atleta – como se as mulheres não tivessem mérito em suas próprias conquistas.
Apesar do pouco destaque na mídia, os Jogos de 2016 foram um marco importante para a desconstrução da heterossexualidade compulsória das mulheres. Espontaneamente, uma quantidade considerável de atletas revelou seus relacionamentos homoafetivos publicamente. Pela primeira vez na história, um casal lésbico competiu junto nas Olimpíadas – as jogadoras de hóquei Kate e Helen Richardson-Walsh. Além da dupla, merece destaque a judoca Rafaela Silva, que ganhou o primeiro ouro brasileiro. Negra e moradora da Cidade de Deus (favela carioca que ficou conhecida internacionalmente pelo filme homônimo, de 2002), ela se assumiu publicamente lésbica logo após ganhar a medalha. Para a imprensa, a atleta ressaltou a importância da companheira para que ela chegasse até ali, tanto apoiando-a emocionalmente, quanto gerenciando e empresariando sua carreira. Vale lembrar também do episódio que comoveu muitas pessoas da comunidade LGBT e do movimento pela diversidade sexual ao redor do mundo, quando Marjorie Enya, que trabalhava como voluntária nos Jogos, pediu a jogadora brasileira de rúgbi, Isadora Cerullo, em casamento em frente às câmeras.
A representatividade das mulheres trans também foi um dos pontos altos do evento. Durante a cerimônia de abertura, a delegação brasileira foi conduzida pela modelo transexual Lea T, que também carregava a bandeira nacional. Além dela, mais 4 mulheres trans puxavam outras delegações, o que é uma quebra de paradigmas sociais no país que mais mata pessoas trans no mundo. No entanto, mais uma vez, pouco destaque foi dado a tal acontecimento.
 E há que se olhar a questão da sexualidade feminina não apenas nos jogos, mas na própria cidade. Ao tempo em que os espaços urbanos foram higienizados, inclusive com medidas que visavam “limpar” as ruas das prostitutas, manteve-se o ‘passe livre’ para que as mulheres brasileiras, em geral, fossem ‘pegadas’. Em uma exposição na Suíça, no Museu Olímpico de Lausanne, por exemplo, ensinava-se aos potenciais visitantes do país como pronunciar palavras como “bundão” e “gostosa”.
E há que se olhar a questão da sexualidade feminina não apenas nos jogos, mas na própria cidade. Ao tempo em que os espaços urbanos foram higienizados, inclusive com medidas que visavam “limpar” as ruas das prostitutas, manteve-se o ‘passe livre’ para que as mulheres brasileiras, em geral, fossem ‘pegadas’. Em uma exposição na Suíça, no Museu Olímpico de Lausanne, por exemplo, ensinava-se aos potenciais visitantes do país como pronunciar palavras como “bundão” e “gostosa”.
Com estes e outros exemplos, vemos um movimento, principalmente da mídia de grande circulação, em que os corpos das mulheres são usados como consumo da mídia e do turismo, exaltados como patrimônio brasileiro, ao tempo em que não podemos expressar a nossa sexualidade nem exercer os nossos direitos sexuais sem sermos condenadas por condutas supostamente imorais, como no caso da saltadora Ingrid.
 Podemos, inclusive, traçar um paralelo ao tratamento dado aos povos indígenas e à população negra no brasil, e, ainda, ao meio ambiente (grande tema da abertura). Uma das principais atrações turísticas criada para as Olimpíadas foi o grande mural do grafiteiro Kobra exaltando a identidade indígena, considerado, inclusive, o maior mural de grafite do mundo)*. Em contraste, no centro-oeste brasileiro os conflitos envolvendo fazendeiros e indígenas têm sido constantes e graves, como no ataque ocorrido em junho deste ano, em que mais de 60 homens armados em caminhonetes alvejaram cerca de mil indígenas guarani-kaiowá, em Dourados, MS.
Podemos, inclusive, traçar um paralelo ao tratamento dado aos povos indígenas e à população negra no brasil, e, ainda, ao meio ambiente (grande tema da abertura). Uma das principais atrações turísticas criada para as Olimpíadas foi o grande mural do grafiteiro Kobra exaltando a identidade indígena, considerado, inclusive, o maior mural de grafite do mundo)*. Em contraste, no centro-oeste brasileiro os conflitos envolvendo fazendeiros e indígenas têm sido constantes e graves, como no ataque ocorrido em junho deste ano, em que mais de 60 homens armados em caminhonetes alvejaram cerca de mil indígenas guarani-kaiowá, em Dourados, MS.
No final, não nos parece excessivo concluir que o objetivo central de megaeventos, como as Olimpíadas, é lucrar e explorar, sem deixar, de fato, muito espaço para a autonomia dos corpos e dos saberes.